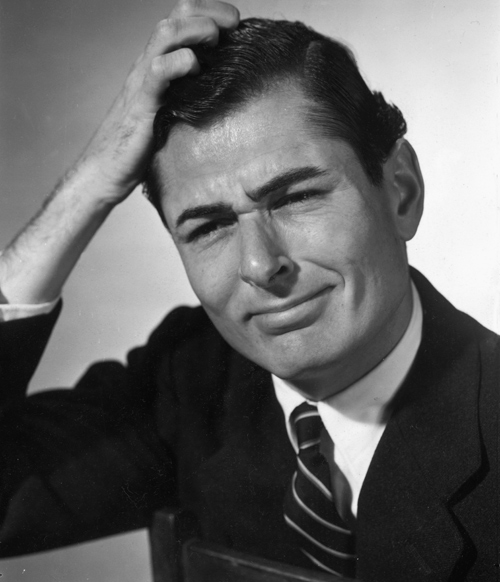1 – A queda
Trabalhava eu em um hospital militar de Porto Alegre há mais de 20 anos. Eu, e um pequeno grupo heterogêneo de obstetras, trabalhávamos no ambulatório e fazíamos cobertura para os partos que ocorriam no centro obstétrico. Esta pequena unidade hospitalar possuía um grupo maravilhoso de enfermeiras obstetras que atendiam o plantão obstétrico, muitas delas hoje são professoras de enfermagem na universidade federal. Minha opinião é que – grande novidade – o plantel de enfermeiras era muito mais qualificado do que os obstetras que lá atendiam; alguns francamente desinteressados, outros cesaristas tecnocráticos e apenas um criticava o modelo cesarista e tinha um vívido interesse em atender de forma humanizada e com base em evidências. Naquela época encontrei um destes médicos numa praia catarinense sentado em uma cadeira de praia olhando fixamente para o mar. Era um obstetra cinquentão e solteiro que morava com sua mãe. Imediatamente me veio à lembrança a imagem de um personagem riquíssimo da literatura mundial, o compositor austríaco Gustav von Aschenbach, imortalizado por Dirk Bogarde no filme “Morte em Veneza” de Luchino Visconti (baseado na obra homônima de Thomas Mann). Talvez seu olhar perdido no oceano fosse, em verdade, uma busca angustiosa pela estética perfeita nas formas andróginas de um Tadzio insular.
Pois neste hospital as enfermeiras obedeciam uma regra muito restritiva: só poderiam atender um parto, mesmo em emergência, se houvesse um médico ao seu lado para se responsabilizar. Certamente que o diretor do hospital – um cirurgião geral militar absolutamente arrogante – jamais aceitaria (ou compreenderia) a excelência do trabalho das enfermeiras obstetras para o atendimento ao parto eutócico. A regra era baseada na desconfiança essencial de uma corporação sobre o trabalho da outra, mas estamos falando de um fato ocorrido há mais de 20 anos. Sejamos um pouco condescendentes.
Pois o fato que ficou em minha lembrança até hoje ocorreu por causa de um parto de emergência. Na verdade ele me foi relatado pela enfermeira que o protagonizou, e tenho em minha memória apenas as cenas imaginadas, construídas por sobre o seu relato.
Durante o seu plantão noturno a enfermeira recebe uma paciente atendida no ambulatório do hospital em pleno trabalho de parto. Encaminha-a para a sala de exames e descobre dois fatos que seriam a base de todo o caso: a dilatação estava completa e o bebê estava sentado. Sendo ela uma boa enfermeira e parteira de vocação, apenas sorriu para a paciente enquanto explicava a situação, deixando clara a ela que o bebê nasceria em alguns minutos. Imediatamente correu para o telefone e ligou para o obstetra de sobreaviso. Este disse que estava saindo imediatamente de casa mas, como morava na zona norte, levaria 30 minutos – na melhor das hipóteses – para chegar ao hospital que ficava no outro extremo da cidade.
Não haveria tanto tempo, e a enfermeira bem o sabia. Ela mesma teria que atender o parto de um bebê na posição pélvica completa. Entretanto, lembrou da normativa do hospital de só atender partos na presença de um médico e lembrou que o único plantonista daquela noite era o Dr. Fagundes Mayo (nome fictício), pneumologista e intensivista, que estava no andar de cima de plantão na UTI. Imediatamente ligou para o setor e convocou o médico a assistir ao parto junto com ela.
– Preciso mesmo ir?, perguntou ele, visivelmente contrariado.
– Sim doutor, são as normas, desculpe.
Mais uma contração e a ponta branca da nádega apareceu no introito. A mãe estava de cócoras com as mãos atrás apoiadas no solo, por sobre um campo esterilizado azul que a separava do chão. Sua face estava coberta de gotículas de suor, que coalescendo, escorriam pelos sulcos de seu rosto jovem. A sala de parto possuía uma curiosa construção. No canto do acanhado aposento havia uma escada espiral que foi construída para produzir um acesso direto e rápido para o andar de cima, onde ficava a UTI. Era por ali que o Dr Fagundes desceria para acompanhar o parto que a enfermeira atendia. Cada contração que se finalizava e a enfermeira olhava para o alto da escada, aguardando a chegada do médico, não porque esperasse qualquer tipo de ajuda real, mas apenas para não quebrar as normas da instituição e receber uma reprimenda imerecida.
Outra contração forte e a nádega saltou para fora da vagina, pipocando como um cubo de gelo que se solta da forminha que colocamos no congelador. O tempo agora se contava em minutos apenas. A cabeça da enfermeira virou-se mais uma vez para o alto da escada espiral, mas nada do plantonista aparecer. Mais uma contração e o corpo todo do bebê surgiu, sendo contido apenas pelos braços que se mantinham ainda enclausurados. Foi nesse exato momento em que ela escutou os passos apressados do Dr Fagundes descendo os primeiros degraus da escada. Após o primeiro giro ele parou e ficou paralisado observando a cena. Talvez as poucas experiências do meu colega fossem com partos um pouco mais “normais”. A visão de um bebê “sem cabeça”, uma espécie de alien disforme brotando de uma vagina, rodeado por gritos e suores, foi demasiada para a curta experiência de um pneumologista de formação. Com o olhar fixo na imagem e ainda tentando entender que parte do corpo se apresentava diante dos seus olhos, seu cérebro escolheu a forma mais simples de lidar com a situação. Simplesmente apagou.
Do alto da escada o jovem médico caiu desmaiado, rolando abaixo em total apagamento sensorial, para o pavor da enfermeira e da paciente.
Talvez o assombro da queda tenha sido frutuoso, pois o susto ofereceu à paciente o influxo final de adrenalina necessário para a expulsão. “Ploct“. O bebê veio ao mundo de olhos arregalados e repousou imediatamente no colo da mãe. Nunca uma enfermeira ofereceu um bebê à sua mãe com tamanha rapidez, mas neste caso foi pela existência de um outro “paciente” a atender. De pronto acolheu o colega de plantão, que aos poucos se recuperava sem nenhum trauma importante ou evidente. Claro, um pouco da sua onipotência saiu arranhada, como evitar?
“Desculpe, desculpe… não sei o que me deu. Perdão, acho que foi alguma coisa que eu comi no refeitório do hospital”.
Sim, a comida, eterna culpada universal das nossas fragilidades. Das náuseas gravídicas aos nossos mais recônditos e inconfessos temores. Uma lástima que hoje em dia os médicos reconhecem os minúsculos tumores e cistos em imagens borradas de ultrassons e tomografias, mas a vida pura, viva, intensa, pulsante e misteriosa escapa-lhes à compreensão. Um bebê nascendo não poderia ser algo espantoso para um profissional que jurou dignificar a vida em todos os seus momentos. Mas o mundo da tecnocracia oferece o distanciamento e a objetualização de quem nos procura, e os corpos animados se transformam em figuras impressas em papel ou gráficos complexos, onde cada ponto é uma vida que se vai, ou uma que acaba de chegar.
2 – A Lição
Com 21 anos de idade, imberbe e extasiado com as lições que o mundo me oferecia, eu cumpria um ritual cansativo mas empolgante: todas as sextas feiras cumpria meu plantão de 24h no hospital de uma cidade vizinha, na função que na época era chamada de “interninho”.
Um “interno” era um estudante de medicina, entre o segundo e o quinto ano, que cumpria funções braçais, simples e por vezes extenuantes no hospital. Cabia a nós fazer suturas nas cabeças de bêbados brigões, repetir prescrições de internações sem sentido, preencher guias de internação, avaliar pulso e temperatura de pacientes, liberar a dieta e até fazer constatação de morte quando algum velhinho partia para o mundo espiritual no meio da madrugada. É claro que a maioria dessas atividades seriam vistas com outros olhos hoje em dia, mas estou contando uma história do início dos anos 80, com várias décadas a nos separar.
Entre as atividades rotineiras dos internos estava o auxílio em cirurgias. Foi neste hospital que eu dei meus primeiros pontos, minhas desajeitadas suturas e minhas absurdas episiotomias. Não havia nenhum controle rígido sobre esta atividade. Estudantes com cara de criança, como eu, entravam despudoradamente para auxiliar cirurgias em hospitais, mas é importante lembrar que alguns poucos anos antes eram as auxiliares de enfermagem, com quase nenhum treinamento, quem realizavam estas funções.
Uma tarde durante meu plantão sou chamado ao bloco cirúrgico para auxiliar em uma cirurgia de “urgência”, assim me foi dito. “Uma cesariana, corra aqui!!”, disse pelo telefone a freira mal encarada, a chefona superior do bloco cirúrgico. Lá fui eu escada acima. Troquei de roupa em segundos e quando entrei na sala de cirurgia encontro a paciente deitada na cama, ostentando um barrigão reluzente por sobre a mesa de operações.
– Vai, menino. Escova essas mãos. O Dr. Wenceslau já vai chegar e precisamos operar agora, imediatamente!! disse quase gritando a enfermeira chefe.
Corri para a larga pia da sala contígua e me escovei o mais rápido que pude. Terminei exatamente quando o Dr. Wenceslau apareceu, com cara de cansado. Ainda tive a oportunidade de lhe perguntar a razão da cirurgia e da emergência, mas ele não teve tempo de responder. Enquanto eu me dirigia de volta à sala de cirurgia escutei um grito agudo e estridente. Mais dois passos, e já dentro da sala, percebi que o grito veio de uma menina da enfermagem, e não da paciente. A cena ficou embaralhada na minha cabeça, pois eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Aproximei-me da paciente e perguntei à enfermeira o que ocorria, e foi neste momento que a técnica de enfermagem levantou o lençol que cobria as pernas da paciente, escancarando a inesperada cena. Com os joelhos levantados e ainda deitada na mesa cirúrgica a paciente tinha metade de uma criança dentro de sua vagina, e a outra metade repousando sobre o lençol da mesa. Entretanto, a metade que eu podia ver era a metade de baixo; era um bebê na posição pélvica que estava nascendo.
Já com as luvas calçadas, automaticamente segurei o corpo do bebê, mas sem saber o que fazer a seguir. Com 21 anos de idade eu jamais havia presenciado um parto assim, quanto menos dado assistência a um. No afã de fazer algo tracionei levemente o bebê em minha direção e percebi que algo trancava a progressão do restante do corpo. Logo em seguida ao meu gesto mais brusco ouvi um grito vindo de outra sala: “Não puxe!!!” Era o Dr. Wenceslau que ainda estava se escovando. Da porta, e ainda esfregando a escova nos braços pintados de iodo, ele continuou a me orientar:
– Seja gentil. Puxe o corpo do bebê para um lado e com a outra mão libere sem fazer força o braço do lado oposto. Muito bem. Agora, com a mesma delicadeza faça do outro lado. Certo. Continue, só falta a cabeça. Agora é a parte final, e você precisa ir com calma. Levante o bebê em direção à mãe… devagar, muito bem… Isso !!
Pronto, o bebê havia nascido. Assustado e extasiado eu havia atendido meu primeiro bebê pélvico, que foi salvo da cirurgia por uma coincidência e pela insistência inconsciente de uma mãe em parir seu bebê numa velocidade superior à pressa dos profissionais. Também foi minha primeira experiência com “tele conferência”, muito antes da invenção da internet. As orientações da sala de escovação me ajudaram a cumprir minha função simples, mas essencial, de ajudar um bebê a nascer. Não sei se ainda ensinam alunos de medicina a atender partos pélvicos. Hoje em dia o medo é tão grande que esta habilidade aos poucos se desfaz. Reconheço que nos últimos 30 anos as técnicas de atenção às apresentações pélvicas mudaram substancialmente, e percebo que o bebê daquela tarde foi assistido de um modo que hoje em dia não se justificaria. A nádega da mãe apoiada na mesa, o excesso de intervenções do “médico”, a manobra de levantar o bebê estão todas defasadas, mas na ocasião era o melhor que se sabia, e o melhor que pude fazer.
Espero que a nova geração de médicos tenha uma vivência mais próxima dos desafios que um parto nos apresenta, e que eles não sejam resolvidos da forma bruta e simplista da cirurgia. Preservar o nascimento de forma livre é um projeto ecológico e essencial para preservar o que de humano existe em nós.
3 – Função Paterna
Maria Clara me procurou já no início de sua gravidez buscando uma experiência mais natural para seu parto. Professora de história na universidade local, casada com um artista plástico “avant-garde”, ela queria que seu primeiro filho fosse trazido ao mundo de uma maneira suave e tranquila, para que o início desta vida pudesse ser o melhor possível. Dona de um temperamento enérgico e agitado ela parecia o centro estelar do casal, em volta do qual um marido carinhoso, mas apático e tímido, gravitava, com circunvoluções lentas e pacienciosas. As consultas eram sempre guiadas por ela; ele apenas sorria e mantinha-se silencioso. Com seus cabelos ora verdes, ora roxos, pintados como forma de trazer a arte ao seu semblante, ele se limitava a concordar com as determinações firmes de Maria Clara. Ela era a empoderada protagonista de uma história escrita por ela.
O pré-natal seguiu sem maiores sobressaltos até que na consulta da 36ª semana confirmou-se o que há algumas semanas estávamos suspeitando: a sua pequena filha teimava em permanecer sentada, pélvica, com o dorso à direita e a cabecinha, como um pequeno abacate, repousava logo abaixo das costelas. Como Maria Clara era de compleição magra foi fácil constatar a posição alterada, que a ecografia posterior apenas confirmou.
– Podemos tentar fazer uma versão externa, suave e tranquila, para tentar mover a pequena. Que achas?
Ela olhou para o marido que me observava ao seu lado, mas ele nada disse, apenas deu de ombros. Em seu olhar ele parecia dizer “se for para ajudar, porque não?”. Expliquei a ela que a versão só poderia ocorrer se fosse absolutamente suave, o bebê estivesse desencaixado e não causasse nenhuma pressão ou dor. Ela aquiesceu e deitou-se na mesa de exames. Algumas poucas e delicadas trações foram suficientes para perceber que ela não cooperaria. Estava por demais tensa e preocupada. Não entendia bem o que havia ocorrido e a ideia de fazer um bebê girar massageando sua barriga lhe pareceu invasiva. Assim que pressionei a cabeça do bebê em sentido anti-horário ela aumentou o tem da voz e disse:
– Não quero! Pode parar. Estou nervosa, não tenho condições de continuar. Deixe que ela fique na posição que escolheu. Desculpe.
Expliquei a ela que não deveria se desculpar e que aquela era apenas uma tentativa. Sem uma cooperação plena de confiança nenhuma tentativa prosperaria. O marido continuava em silêncio, observando nossa conversa. Disse, finalmente, que poderíamos continuar tentando com moxabustão, homeopatia, rebozo e exercícios. Pedi que voltasse na semana seguinte para conversarmos e me despedi. Uma posição alterada sempre suscita uma série de questões. O percentual é de 4 a 6% de bebês que permanecem pélvicos até o final do ciclo gestacional, mas a pergunta que sempre me fiz foi: eles têm alguma razão para escolher esta postura? Será coincidência ou haverá alguma causalidade recôndita a guiar seu posicionamento? Sentar-se, de braços cruzados sobre o colo uterino é uma determinação fetal, ou um ordenamento materno? Se pudermos “viajar” para mais além, haveria um conluio secreto entre ambos para que aquela posição imprimisse um destino especial, conhecido apenas por ambos? Porque um bebê insiste em colocar-se de costas para o mundo? Talvez eu jamais tenha a resposta para estas perguntas.
Nas semanas seguintes houve pouca modificação. Maria Clara voltava a cada consulta convencida de que nada havia se modificado. Dizia que, se houvesse uma mudança de posição, ela certamente acabaria sabendo. Entretanto, sua gestação mantinha-se plácida, tranquila, serena e imóvel. Nenhuma diferença visual, e os batimentos cardíacos continuavam a ser percebidos como um tropel de cavalos bem acima da cicatriz umbilical. Era teimosa a menina, mesmo diante dos nossos exercícios, tratamentos e súplicas. Com 39 semanas de gravidez Maria Clara, entre decepcionada e constrangida, veio me comunicar sua decisão.
– Ricardo, não tenho condições de passar por um parto deste tipo. Falta-me a coragem. Minha família, com exceção do meu marido, não me apoia sequer para um parto normal. Quando souberam que o bebê estava sentado queriam me internar na hora e operar. Foi uma dificuldade explicar que tudo estava bem e que eu ia manter o meu pré-natal como havia planejado. Entretanto, ter a minha filha nessas condições está para além das minhas forças e minhas capacidades.
Olhei para seu marido que permanecia em silêncio. Minha pergunta silenciosa e insistente era se a sua atitude era de respeito à autonomia que ela requisitava para si ou apenas um desinteresse. Havia um “respeito aos espaços” ou uma falta de aptidão para questionar e opinar sobre uma questão que parecia lhe fugir ao controle? Resolvi perguntar a ela sobre sua decisão.
– Maria Clara, existe alguma coisa que eu possa dizer para lhe demover da decisão de partir para uma cesariana?
Ela mais uma vez olhou para o marido, que por sua vez permaneceu imóvel.
– Não. Esta é a minha decisão.
Estimular o protagonismo tem este preço. Se você realmente quer promover a autonimia plena precisa estar preparado para as decisões que não lhe agradam. Entretanto, como negar à uma paciente que seja honesta com seus limites? Como assumir como meta o protagonismo restituído a elas sem pagar o preço – por vezes muito alto – da decepção? Como ousar subverter a ordenação centenária que coloca o médico em posição superior sem correr o disco de encontrar pelo caminho uma escolha que não lhe parece sensata? Não há como fazer uma omelete sem quebrar os ovos.
– Ok, se não há o que dizer, quem sabe ainda exista espaço para planejarmos a sua cesariana da melhor maneira possível. Um parto pélvico planejado apenas pode ocorrer com a plena aquiescência e colaboração da mãe. Não há, dentro da humanização, espaço para imposições deste tipo. Bem sabemos o quanto um corpo pode se fechar e combater a própria fisiologia, seja por uma contrariedade consciente ou por um medo que brota do território obscuro das emoções inconscientes. Entretanto, creio que uma cesariana seria menos danosa se o bebê pudesse ao menos dar seus sinais de nascer. Assim teríamos o nascimento de sua filha na data que ela determinou, e não no momento que seria melhor para os outros. Que acha da ideia de sua filha escolher a data do seu aniversário? Ela pela primeira vez sorriu durante aquela consulta. Olhou para o marido que, como de costume, concordou com a ideia.
– Como seria? perguntou-me.
– Quando começarem as contrações me chamem. Elas não precisam sequer ser fortes o suficiente para dilatar o colo, basta que sinalizem o início do trabalho de parto. Como é seu primeiro filho espera-se que este processo leve algumas horas, portanto teremos tempo de ir para o hospital, chamar a equipe e fazer a sua cirurgia. O que lhes parece?
Concordaram com a ideia sem questionar. Ficou combinado que tão logo as primeiras contrações chegassem o chamado seria feito e a equipe se encontraria no hospital para ajeitar os pormenores da chegada de sua filha. Não se passaram mais do que alguns dias até que recebi o telefonema de Maria Clara me avisando que havia percebido umas frágeis e esparsas contrações, além da perda de uma gota de sangue, percebida após urinar.
– É o momento, disse eu. Podemos ir para o hospital. Arrume suas coisas que eu chamarei a equipe. Nos encontramos lá.
Imediatamente liguei para meu colega anestesista, parceiro de décadas. Avisei que se tratava de uma cesariana por apresentação pélvica e que podíamos ir para o hospital agora, para evitar que ela tivesse contrações sem necessidade. Ele concordou de imediato e eu arrumei as coisas para ir ao hospital. Nessa ocasião houve uma coincidência curiosa. Quando estacionei meu carro no apertado estacionamento do hospital percebi que um carro fazia o mesmo ao meu lado. Pois era Marco, o anestesista. A piada óbvia não pôde ser evitada: “Se tivéssemos combinado isso nunca aconteceria”. Caminhamos lado a lado pelos corredores e pegamos o elevador até o terceiro andar, onde fica o centro obstétrico.
Quando a porta do elevador se abriu fomos surpreendidos por gemidos vindos do CO. Ao escutá-los ainda tive a oportunidade de brincar com meu colega e dizer “Pelo menos algum parto normal vai ocorrer neste hospital hoje”. Estávamos em um dos hospitais líderes de cesarianas na cidade, que já na época ultrapassava os 80%. Poucos médicos ainda ousavam atender partos normais por lá, e hoje em dia o número diminui de forma marcada, aproximando-se tristemente de zero. Apertei a campainha do centro obstétrico ainda conversando alegremente com Marco. A enfermeira abriu a porta rapidamente, e sorriu ao me ver.
– Graças a Deus o senhor chegou doutor. A sua paciente está muito ansiosa. Não para de gritar e disse que está com muita contração.
– Minha paciente quem?, perguntei eu
– Ora, a Maria Clara. O senhor não pediu a ela que viesse para cá? Ela está em franco trabalho de parto e disse que tem vontade de fazer força!!
Não é possível. Eram dela os gemidos que ouvimos do corredor! Eu havia falado com ela havia menos de uma hora, com leves contrações espaçadas e frágeis. Não poderia ter progredido de forma tão rápida e intensa em poucos minutos. Eu precisava avaliar para confirmar o que estava acontecendo. Ao lado esquerdo da porta de entrada ficava a sala de exames, para onde as pacientes iam para o exame inicial e a avaliação dos sinais vitais, e de lá se dirigiam para a sala de pré- parto e parto. Abri lentamente a porta e pude ver Maria Clara transtornada, segurando a mão de um silencioso marido de cabelos verdes. Quando me viu, gritou a todos os pulmões.
– Porque demorou? Estou com muita dor! Quero a minha cesariana agora! Nós combinamos a cirurgia, você concordou! Não me deixe esperar mais, por favor!
O marido parecia atônito e não ousava falar, talvez com medo da reação de sua histriônica esposa. Olhou para mim timidamente, e de forma educada perguntou se poderíamos dar seguimento ao nosso acordo inicial.
– Claro que sim, o anestesista está aqui comigo. Tudo foi rápido demais, você recém tem uma hora de trabalho de parto. As contrações surgiram de forma inesperada, intensas e frequentes. O anestesista já está pronto, do lado de fora desta porta. A nós basta apenas passar para a sala de cirurgia, chamar meu auxiliar e avisar a neonatologia. Isso não ultrapassa uns poucos minutos. Tente aguentar firme.
Ela ainda esboçou um “mas vai demorar?”, mas enquanto ela ensaiava esta queixa eu e seu marido a levantamos da maca onde estava e a levamos caminhando até a entrada da sala cirúrgica. Entretanto, antes que pudéssemos fazer isso, ela parou para mais uma contração, e pude ouvir o som inconfundível da guturalidade, a conexão sonora grave entre a glote e o colo uterino, o som das expulsões que antecipa os nascimentos.Surpreso pelo som que acabara de ouvir, segurei sua mão com firmeza e pedi que parasse.
– Espere, entre na sala de parto, disse eu. Preciso avaliar imediatamente onde está o seu bebê.
Colocamos Maria Clara na cama de lençol branco e acendemos a luz. Pedi à enfermeira uma mão de luva para realizar o toque vaginal. Esperei por menos de um minuto pela próxima contração e, quando a nova onda surgiu, pude avaliar o que acontecia no íntimo de suas contrações. Uma nádega pequena cobria inteiramente a cavidade vaginal. A dilatação tsunâmica havia se completado em minutos, e a descida do bebê foi espetacular. Afastando-se os lábios vaginais já era possível vislumbrar a bolsa protusa e a nádega pálida que se escondia por detrás, no aquário de bolsa, vérnix e água. Levantei os olhos para o casal e lhes disse, sem pestanejar:
– Não há como segurar. Este bebê vai nascer. Está dentro da vagina, e nada mais o segura. Não há tempo, e muito menos razão, para se fazer uma cesariana. Sua filha vai nascer dentro de instantes.
Maria Clara me olhou com olhos de pavor. Fitou os olhos do marido e depois os meus. Colocou-se de joelhos na cama e clamou aos céus:
– Por favor, Ric, faça alguma coisa. Uma criança não pode nascer assim!! Ela vai ficar presa, vai entalar, vai sofrer!! Eu não quero que ela venha ao mundo desta forma! Nós havíamos combinado que você ia me operar, e eu fiz tudo o que foi combinado. Eu não tenho culpa da velocidade, mas você pode resolver isso. Por favor, me opere, agora!!
Olhei para os olhos de Maria Clara e tentei, da forma mais calma do mundo explicar as características emergenciais do caso.
– Acho que você não entendeu. Não se trata de querer ou não operar. Não se trata muito menos de cumprir ou não o acordo anteriormente firmado. Sua filha vai nascer em instantes, basta que você solte o corpo e a ajude. Ela está praticamente saindo. O anestesista está ali, do lado de fora, mas até levar você para o bloco e operar ela já estaria nos seus braços.
Aponto para a porta da sala de parto onde o anestesista estava nos acompanhando pela fresta. De lá ainda pôde dizer “estou aqui se precisarem de mim”. Depois disso mais uma contração e pude constatar o “sinal do bochecho”, que é como chamo a apresentação que empurra o períneo fazendo duas “bochechas” ao lado do óstio vaginal. Não adiantou muito a minha fala, e antes que a próxima contração chegasse ela despejou seu derradeiro esforço de capitulação.
– Você me enganou! Disse que faria a cirurgia e está me enrolando. Eu não mereço ser tratada assim, quero minha filha!!
Finalmente, a cartada final. Virou seu rosto para a esquerda e olhando duramente para o marido disparou sua queixa mais grave, entre gritos, gemidos e choro.
– E você não faz nada? Está me deixando aqui sofrer e não diz coisa alguma, nenhuma palavra, nenhuma defesa? Estou lidando sozinha com toda essa contrariedade e de você não recebo nenhuma ajuda. Quando é que você vai…
– Cale-se. Fique em silêncio por um minuto apenas. Pare de falar e concentre-se no que você tem a fazer. Eu mesmo vi que nossa filha está saindo. Ela vai mesmo nascer agora. O doutor está certo, e isto é o melhor a fazer. Confie e pare de tagarelar sem parar! Chega de choramingos inúteis e vazios. Faça força e feche a boca!
Depois disso apenas o silêncio, que durou a eternidade de alguns poucos segundos. Sim, eu não poderia falar isso; jamais teria esse direito. Os gritos severos vieram do seu esposo, o mesmo que se mantivera quieto por todo o tempo, e cuja voz eu havia escutado não mais do que meia dúzia de vezes durante todo o pré-natal. Imediatamente, como se fosse banhada por uma cachoeira de sensatez, ela silenciou. Olhou para mim e depois para o marido. Fungando e secando o rosto umedecido pelas lágrimas, perguntou:
– Então vai nascer mesmo? Devo fazer força? Vai dar tudo certo?
– Claro, dissemos os dois. E vai ser agora.
Ela reconheceu a chegada da contração e pela primeira vez vi seu corpo relaxar e entregar-se à força de seu útero. Solta dos arreios da tensão de seu corpo, que se contrapunham às forças expulsivas, e seu bebê pôde finalmente escorregar pela vagina. Mais uma última força e o desprendimento da cabeça foi suave e tranquilo.
– Nasceu!! gritou ele, e de sua garganta veio um grito trancado há muito tempo. Sua cabeça voltou-se para cima e começou uma mistura incompreensível de lágrimas, choro e gargalhadas ruidosas. O homem do cabelo verde extravasava de alegria pela tensão concentrada de um parto cuja rapidez desafiou toda a nossa paciência e sangue frio.
Ela aconchegava seu bebê ainda com estranheza. Nem 15 minutos haviam se passado desde que chegamos, e ela já estava com sua menina no colo. Ria e chorava, olhava para os primeiros lamentos de sua filha, limpava-lhe o rosto e acariciava seus cabelos. O marido a abraçou e ambos choraram em uníssono uma grande vitória sobre o inesperado.
Por quase duas décadas este parto ocupou meus pensamentos, e acho que nele existem vários temas que podemos perseguir. O que mais me estimula é a atitude inesperada e firme do marido. Em verdade, creio que sua ação forte e impositiva, estabeleceu um limite para o descontrole de sua esposa. Ao meu ver, este foi o fator essencial que permitiu o nascimento na contração seguinte. Não fosse o tom, a voz e a sua autoridade e ela continuaria numa espiral de desconfiança, medo, angústia e tensão, exatamente os elementos que estavam impedindo a progressão do parto e o nascimento. Muito se diz da função paterna, o estabelecimento de limites, aquilo que constitui o pai em uma relação. Pois para mim, a ação súbita, inesperada e firme daquele pai, selou de forma intensa e duradoura a sua função na vida daquela criança. O grito primal fez um dueto com a voz forte e decisiva do pai, e juntos formaram a harmonia de sons que culminou em um nascimento vitorioso.