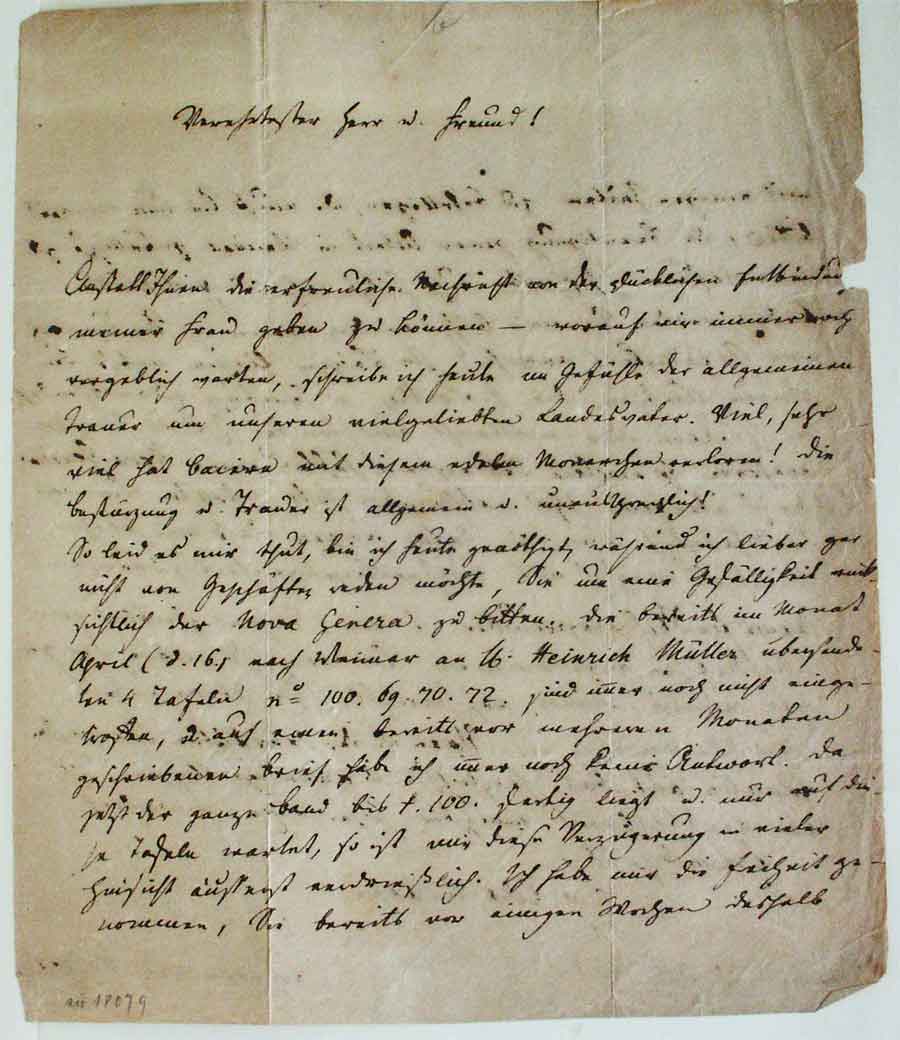Vou abrir um espaço para falar o que penso, sem brincadeiras (que, aliás, não apenas curto como estimulo, pois se trata da possibilidade de fugir do politicamente correto). Eu não acredito que exista um clube mais homossexual (em termos de torcida) que outro. Simplesmente não faz sentido. Aliás, se houver algum será o Flamengo, e depois o Corinthians, simplesmente porque detém as maiores torcidas. Simples assim, mas isso não significa que eles sejam percentualmente mais gays que outros. Aqui mesmo nana Internet apareceram fotos de homossexuais (postadas pela torcida adversária, claro) de todas as agremiações; basta procurar por alguns minutos na Internet que se acha.
Olha… eu sou do tempo em que o Grêmio teve uma torcida chamada “Coligay”. Era formada por um grupo de jovens homossexuais que frequentavam uma boate chamada Coliseu. Eu cheguei mesmo a assistir Grenal em que estava esta torcida, e ela era não apenas tolerada, mas até exaltada como um exemplo de diversidade; alegre, divertida, barulhenta e colorida. Havia também outra torcida no Grêmio chamada de “Força Azul” comandada pelo “Careca” que era um notório homossexual. Há relatos que ele praticava felação com os jovens durante os jogos, escondido no meio das bandeiras. Entretanto, mesmo sabendo esse tipo de “viadagem”, isso não nos incomodava ou ofendia: entendíamos como o exercício da liberdade sexual. Olhava quem queria, chegava perto quem tinha curiosidade e entrava na roda quem precisava. Havia, curiosamente, um respeito pela diversidade sexual, algo impensável para os dias de hoje.
Mas por quê? O que se modificou na relação que nós temos com esse tipo de atitude? O que houve nos últimos 30 anos que modificou a estrutura da sociedade contemporânea penalizando a atitude homossexual, com as óbvias repercussões nos fenômenos de massa, como o futebol?
Há várias interpretações.
A minha é a queda do muro de pedra.
Não, nada a ver com o muro de Berlim. É sobre outro muro, do outro lado do mundo. Este muro é igualmente de pedra, chamado de “Stone Wall”, uma famosa boate gay na cidade de Nova York, no início dos anos 70. Uma feroz e desumana batida policial realizada naquele local colocou seus frequentadores diante das câmeras pela prática da “pederastia”. Diante dos televisores dos lares americanos apareceram os “doentes”, os “transviados”, ou “perversos” praticantes de uma doença que parecia se alastrar, colocando em risco a estrutura da família americana. Mas, para o assombro geral, os sujeitos presos e humilhados durante a abordagem policial eram pessoas como nós: pais, jovens, velhos, advogados, avós, médicos, professores, arquitetos. Gente. Pessoas perigosamente parecidas demais conosco, os heterossexuais.
É importante recordar que para nós, nos anos 70, não havia homossexualidade, que só foi inventada nos anos que se seguiram. Havia um distúrbio, uma doença, um desvio e uma aberração biológica e moral chamada “pederastia”. Diante desse nome, dessa marca e desse diagnóstico paradoxalmente sentíamo-nos seguros e protegidos. “Eu não sou homossexual, não tenho essa enfermidade”. A homossexualidade era tratada, curiosamente – e de forma um tanto jocosa – como uma doença contagiosa, num modelo “vampiresco”. Os próprios homossexuais ingenuamente diziam “Ah, você se julga hetero, mas se um dia você “der” nunca mais vai ser o mesmo”. Era folclore, misturado com preconceito e com a ignorância do determinismo de desejo que se aplica à orientação sexual.
Pois a queda de Stone Wall acabou por provocar uma onda de protestos por todos os Estados Unidos, pelos direitos da livre expressão da sexualidade. O início desse movimento pode ser visto no filme MILK, grande obra de Sean Penn. Daquele ponto em diante a homossexualidade passou a ser vista como uma bandeira de luta pela liberdade, contra o moralismo e a favor da autonomia do sujeito sobre seu próprio corpo e seu desejo. A bandeira multicolorida, o orgulho gay, as paradas e as manifestações, assim como o surgimento de grupos em todo o mundo (como o “Nuances” no Brasil) marcam a trajetória de um movimento de resgate da homossexualidade como manifestação legal e legítima de afeto entre as pessoas.
Entretanto, a saída do armário acabaria produzindo um notável movimento de reação. Somente depois do surgimento da homossexualidade é que nós criamos a homofobia. Esse sentimento (que em geral não se expressa de forma organizada, mas como uma posição subjetiva) é derivado do medo de que os sentimentos homossexuais, derivados de nossa configuração sexual primitiva na tríade amorosa primordial, sejam descobertos pelo outro, e expressos como preconceito. A homofobia, portanto, nasce como contraponto à expressão livre da sexualidade na cultura. Ela é a forma como nos defendemos de nossas próprias inseguranças, refugiando-nos num estereótipo “macho” para esconder nossas fragilidades. O homossexual é sempre o outro, assim como na escola nos apressávamos em chamar o colega de “baixinho” antes que alguém pusesse os olhos em nós e visse que nossa altura era igualmente desfavorecida.
Homossexuais são as torcidas adversárias : As Marias, o Gaymio, os Coloridos (moranguinhos), o Gaylo, os Bambis e todos aqueles que não são “nós”, num exorcismo que fala muito mais de nossas inseguranças do que de uma verdadeira preferência sexual do outro. Hoje em dia vemos que os xingamentos de torcida são todos exorcismos sexuais. Os outros são “putos”, são “viados” e “bixas”. Na minha época de criança xingávamos a mãe, foco de nosso amor desmedido e centro da nossa proteção. Tudo mudou: ofendemos o outro por suas preferências supostas, imaginadas e/ou temidas.
Eu achei que seria interessante abordar um fenômeno novo (porque não tem mais do que 30 anos) no futebol: a homofobia. Muito mais do que a defesa ingênua e tutelante que eu as vezes presencio, eu acredito ser mais interessante entender as origens da homofobia em função da conjuntura atual, decorrente dos movimentos de liberação gay. Nessa perspectiva, a homofobia (como manifestação, não como sentimento e nem como prática) é uma consequência dos movimentos GLTB (ou queers, que engloba tudo). Antes da extroversão dessas modalidades de expressão sexual não havia necessidade de expressão homofóbica, pela simples razão de que ela não ameaçava a maioria heterossexual. Bastou os homossexuais se assumirem publicamente, mostrarem seus rostos na rua, para nos apavorarmos com a semelhança (e não com as diferenças) que eles possuem com o mundo dos “normais”.
É isso, exatamente, que gerou a homofobia: a parecença, o fato de eles serem humanos, amarem, odiarem, terem medo e orgulho. Como qualquer um. Portanto, ninguém mais estaria a salvo. Saíram dos armários e do DSM (lista de doenças psiquiátricas), e isso os deixou perigosamente próximos de todos os héteros, os que sustentavam a ideia de família cristã e prolífica. Assim, tornou-se imperioso expurgar a suspeita e colocá-la no outro. Foi essa a razão pela qual os xingamentos homofóbicos se tornaram lugar comum nos estádios, e também na vida das cidades: o medo, pânico de que descubram minhas fragilidades…
Mas sou um otimista inveterado. Eu ainda gostaria de ver de novo uma torcida homossexual no meu clube. Mais ainda: gostaria que a orientação sexual não fizesse diferença alguma para o torcedor, e que as barreiras entre homos e héteros simplesmente ficassem restritas aos leitos e aos corações. Gostaria que os homossexuais gostassem de futebol, se interessassem pelo espetáculo e se apaixonassem pelos gols e vitórias. Gostaria que meu clube não impedisse, através da direção ou da torcida, a livre expressão de amor clubístico pelos grupos homoafetivos. A repressão que qualquer preferência sexual é um mal para a sociedade.
Mesmo que eu defenda com unhas e dentes a livre expressão, e o direito à homofobia, eu sonho com uma sociedade livre desses preconceitos, em que a comunhão em torno da alegria do futebol seja o traço de união entre todos que o procuram.