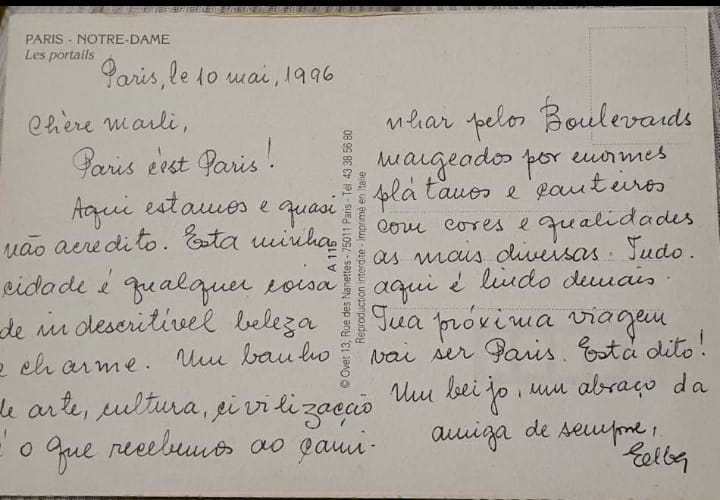Quando eu comecei a trabalhar em hospitais a Enfermeira Padrão era a enfermeira diplomada, com curso superior. Naquele tempo ainda existiam as auxiliares de enfermagem, que eram pessoas sem qualquer formação, apenas prática. No hospital da periferia de Porto Alegre onde trabalhei por 4 anos, no início dos anos 90, ainda havia auxiliares de enfermagem que atendiam os partos, quando o convênio pagava pouco ou para deixar o médico dormir. Eram mulheres que entraram no hospital como auxiliares de limpeza e foram “progredindo na carreira”. Tornaram-se, muitas delas, “parteiras” cujo aprendizado se deu no auxílio aos médicos e junto às outras parteiras mais experientes. Seriam “parteiras tradicionais urbanas”, por seguirem uma “tradição” de assistência e serem oriundas do povo, e não das escolas ou da Academia.
Algumas delas eram espertas e muito hábeis. Foi com uma dessas auxiliares que aprendi na prática a ação da água no trabalho de parto. Mal as pacientes começavam a esboçar algum tipo de desespero e ela as colocava debaixo do chuveiro quente. “Vamos secar a caixa d’água do hospital, doutor” dizia ela dando risadas.
Entretanto, apesar de uma certa sabedoria oriunda da experiência, seu conhecimento de partos era limitado às práticas violentas que testemunhavam cotidianamente. Assim, a assistência que davam mimetizava as más condutas que observavam no procedimento médico. Seus partos eram na posição de litotomia (pacientes deitadas de costas na maca), faziam episiotomias, kristeller, gritos, comandos, luzes fortes ligadas, corte prematuro do cordão, etc e tudo aquilo que há 30 anos já sabíamos ser inadequado. Elas eram, mesmo sem o saber, o espelho justo de uma assistência indigna às mulheres.
Quando cheguei no plantão resolvi (como sempre) botar o pé na porta. Decidi no primeiro dia que no meu plantão os partos seriam todos na posição de cócoras (como padrão), cesarianas seriam marcadas com indicação clara (o que produzia ódio nos anestesistas que eram obrigados a comparecer de madrugada ao hospital) e decidi abolir por completo as episiotomias. Também o bebê seria colocado no colo da mãe após o nascimento.
É evidente que minha passagem pelo hospital foi marcada por perseguições. Numa instituição com 45% de cesarianas, e que atendia quase exclusivamente SUS, ter um médico que tinha 10% de intervenções gerava inconformidade e resistência.
Entretanto, a raiva dos médicos era compreensível. Sabia que isso abalava seu conjunto de crenças e, em especial, questionava seu poder absoluto sobre o corpo das mulheres. Dizer para uma mulher “fique na posição que desejar” é um tapa na onipotência médica, e isso não poderia ficar impune.
Contudo, eu não esperava a contrariedade das “parteiras”, as auxiliares diretas do meu trabalho. Sim, elas também não gostavam de ver um médico agindo diferente da cartilha que elas mesmas haviam aprendido. O que eu trazia de novo as incomodava e suspeito que isso tem a ver com fidelidade e dívida amorosa.
Acreditar que eu estava certo seria dar as costas aos seus antigos professores e tudo que eles lhes ensinaram com sua prática e seu exemplo. Seria trair seus mestres com a “velha novidade” que eu trazia. Isso parecia grave demais para elas. Era preferível continuar com os mesmos procedimentos violentos contra as gestantes – mulheres como elas – e manterem-se fiéis aos seus orientadores e referenciais do que se arriscar e fugir com o jovem aventureiro de ideias renovadoras. Mudar suas condutas seria uma crítica contundente e indisfarçável aos seus superiores.
“Se isso que o senhor faz fosse o certo todos estariam fazendo, seu doutorzinho do passo certo”, disse-me uma delas. E como não entender o medo da novidade, que carregava o risco de colocar por terra tudo que haviam aprendido a duras penas nos últimos 30 anos?
Sobrou da experiência uma válida reflexão: quem ousa mudar um paradigma sempre carrega essa carga: a incompreensão e a resistência serão os únicos resultados certos e obrigatórios. Mas, como eu aprendi muito cedo, é preciso agir por um imperativo ético, jamais pela promessa de sucesso ou para ser, finalmente, aceito e compreendido.
Também restou o agradecimento àquelas mulheres simples de onde retirei muitos ensinamentos válidos para toda a vida.