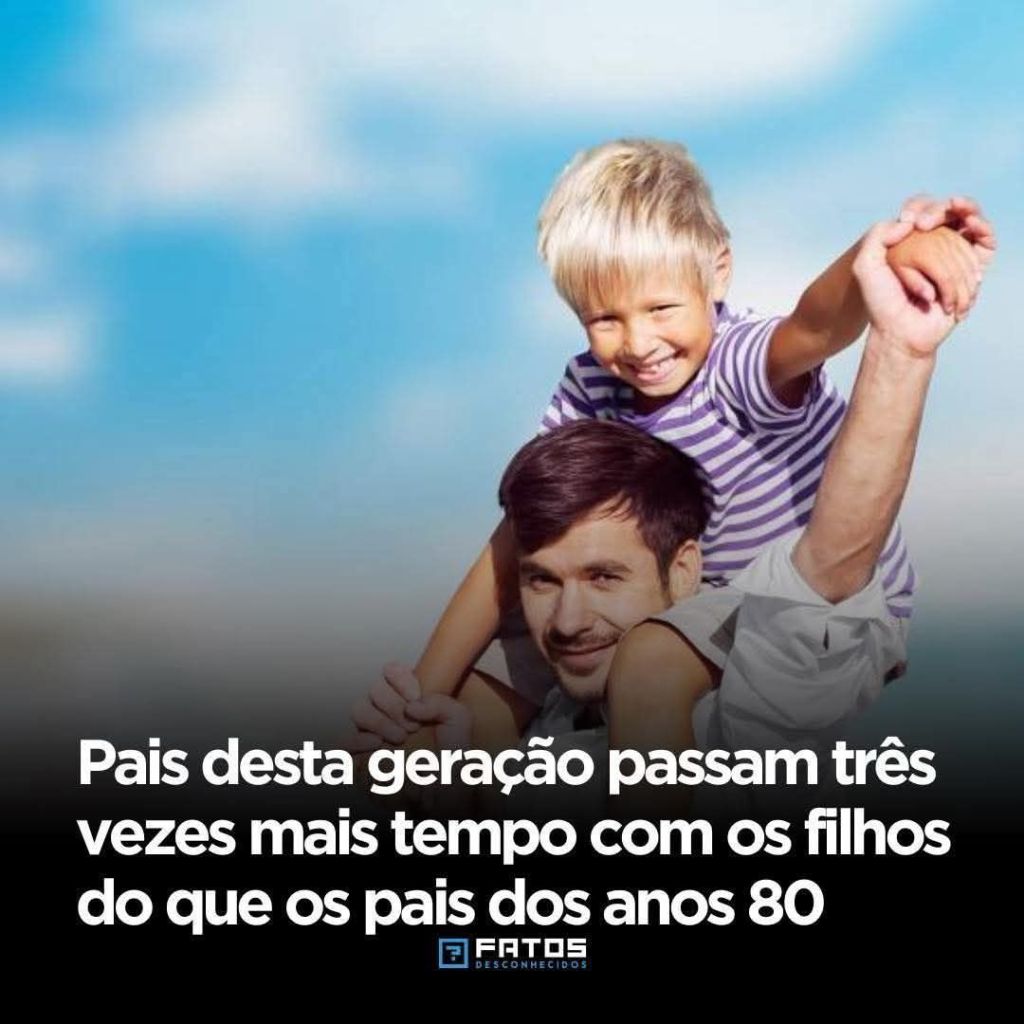Pai e Paternidade
A história do ser humano na face da terra é caracterizada por um aprendizado lento. Nossas conquistas nas áreas sociais sempre foram graduais e paulatinas, com gerações inteiras experimentando apenas detalhes como modificações no seu cotidiano quando comparadas com o estilo de viver de seus ancestrais remotos. Essas alterações sempre ocorreram em todos os aspectos da sociedade, desde a organização social e política até mesmo (e principalmente) no terreno da ciência e do conhecimento. Durante milênios, nossas tarefas e especificidades sociais foram determinadas rigorosamente pelas aptidões aparentemente mais “naturais” que apresentavam os homens e as mulheres. O legado que nossa extensa experiência como caçadores/coletores nos deixou transmitiu-se por inúmeras gerações, sendo que a rigidez de seus postulados apenas há alguns anos passou a ser questionada. Assim, nada mais justo que o mundo externo, o mundo das conquistas, das batalhas e do saber racional ficasse sob a responsabilidade do componente masculino, enquanto o mundo interior, da família, da natureza, dos mistérios do inconsciente, coubesse às mulheres. Esse esquema funcionou com razoável equilíbrio até algumas poucas décadas atrás, fazendo com que homens e mulheres convivessem em uma “harmonia forçada”, por ser essa a expectativa clara e única de suas funções sociais. Nesse mundo, a gravidez, o parto e a maternagem existiam apenas como extensão do universo feminino, não sendo possível entender a participação dos homens nele, a não ser como procriadores/provedores e possuidores de uma descendência.
Lucas, a exemplo das tradições tibetanas, nasceu de um sonho. Um sonho premonitório, mas, ao contrário do que se esperaria, esse sonho não foi sonhado por quem o carregava no ventre; foi sonhado pelo seu pai. Em uma escura passagem, um caminhante solitário vê formar-se à sua esquerda uma fonte intensa de luz. Ofuscado pela luminosidade, leva a mão aos olhos, tentando enxergar o que se esconde por detrás. Inútil. Dessa luz brota uma voz, que avisa em tom solene a chegada de um visitante.
— Preparem-se, amigos — diz a voz poderosa. — Lucas está se aproximando para juntar-se a vocês.
Depois disso, do meio do breu da estrada surge a figura de um menino, de mais ou menos 10 anos de idade, que caminha em minha direção. Tem os cabelos loiros, lisos e longos e seu passo é firme. A distância entre nós se encurta, mas nosso contato não chega a acontecer porque, assustado, desperto do meu sono. Ligo para a minha namorada e digo que tenho algo muito importante para lhe dizer. Ela se assusta. Mais tarde lhe conto pessoalmente o sonho, e o nome do menino que me foi revelado, e ela diz que seria quase impossível que ele fosse verdade. Não seria viável, ou provável, que ela estivesse grávida àquela época do ciclo menstrual. Eu apenas comentei que o sonho fora claro demais para ser desmerecido. Os acontecimentos das próximas semanas mostraram que tanto eu quanto o sonho estávamos certos.
Lucas estava realmente a caminho.
Exatamente 40 semanas após sua última menstruação, ela entrava em trabalho de parto. Rompida a bolsa na madrugada, rumou para o hospital da universidade, o mesmo onde anos mais tarde eu faria a minha formação em obstetrícia e ginecologia. Suas contrações ainda eram frágeis e irregulares, mas foi mantida no hospital por decisão do contratado de plantão. Eu ainda não tinha a menor noção da iatrogenia relacionada à internação precoce de pacientes em fases iniciais de trabalho de parto. Levaria muitos anos para aprender essa conexão notável entre o psiquismo feminino, seu instinto de proteção à cria, e a sutileza dos mecanismos relacionados à ocitocina, endorfina e adrenalina. Deixo o hospital prometendo voltar mais tarde. Como de costume, eu estava gazeando aulas na faculdade de medicina para fazer um plantão no Pronto-Socorro. Sempre me atraiu a medicina viva, em carne e osso, olhando a face dos pacientes, catando diagnósticos nos sulcos que o sofrimento marcava em seus rostos; por isso, minha opção desde cedo em trabalhar junto aos doentes, priorizando a prática em detrimento da frieza vazia das teorias.
No meio da tarde, meu cunhado me liga dizendo que as dores estavam muito fortes e que seria melhor eu voltar ao centro obstétrico. Percebi que Lucas estava chegando. Havia aguardado mais de 20 anos por esse reencontro.
As horas se acumulavam, umas sobre as outras. As dores se aproximavam, quase se fundindo. O suor, o rosto contraído, a palidez. O gosto salgado na sua boca. Olhava para ela como que a pedir perdão. Uma súplica. Como posso ajudar, se tenho as mãos atadas? Que posso fazer para minorar sua dor? Eu tenho apenas 22 anos. Como sou estudante de medicina, e apenas por isso, me permitem adentrar o espaço do centro obstétrico. É uma manhã fria de junho de 1982. Estamos no meio da Copa do Mundo. Ontem o Brasil aplicou 4 x 0 em um time qualquer. Nem lembro bem qual é, mas o Zico marcou um gol. A ruptura da bolsa se deu junto com o romper da aurora, e sabia que esse fato era um complicador na forma como os médicos do centro obstétrico entendiam aquele caso específico. A mim só restava esperar, e pedir aos deuses que os médicos responsáveis tivessem a sabedoria para fazer as melhores escolhas.
A participação paterna no processo de parto e nascimento é um evento raro entre os mamíferos, principalmente quando a paternidade não é uma obviedade. Entre os grupamentos em que a participação genética de determinado parceiro é assegurada, essa ligação pai-filho se dará de forma mais intensa, enquanto, nos grupamentos mais promíscuos (com paternidade menos confiável), um padrão muito heterogêneo poderá ocorrer, variando do infanticídio, em uma extremidade, até mesmo cuidados ativos e afetivos, na outra. Essa disparidade idiossincrática de atitudes nos demonstra que o estabelecimento da relação entre o pai e seu filho não seria um produto de nossa herança genética, mas ocorreria em razão de aspectos ecológicos e comportamentais, principalmente relacionados com a distribuição de comida, o que está de acordo com a atitude de todos os carnívoros sociais.
Ela a cada minuto parecia mais fraca. Dezoito horas já haviam se passado desde a ruptura das membranas e a perda do líquido amniótico. Seu humor estava abalado. Não mais suportava a conversa das auxiliares, e mesmo a minha presença era apenas tolerada. Eu caminhava ansiosamente de um lado para outro. Repetiria essa atitude ansiosa durante as centenas de partos que acompanharia nos anos que se seguiriam. Mas aquele dia era o meu “batismo de fogo”. A paternidade entrava na minha vida de forma precoce e inesperada, o que me deixava ainda mais assustado e tenso. Fazia promessas. Imaginava que amanhã estaria rindo com meu filho nos braços. Pensava na magia de ser pai. Ia até o corredor do hospital e pedia colo para minha mãe, que silenciosamente aguardava para parir seu primeiro neto. Tentava criar coragem. Olhava para as residentes e aguardava delas uma palavra, um gesto, uma confirmação. Esperava que meu sofrimento fosse abreviado. Eu estava entregue. Dependia daquela mulher e dependia daqueles médicos. A sensação de dependência, de falta de controle sobre a situação, me fazia menino, pequeno, diminuto. Só o que podia fazer era ter paciência e confiar. Das residentes escutava apenas comentários que não me ajudavam. Zeza continuava completamente absorvida pela intensidade de suas dores, mas para mim, pobre menino, nada parecia acontecer. Até que, ao cair da noite, depois de um exame vaginal, eu escuto a guturalidade de um som: a expressão sonora de uma passagem. Algo ocorrera, e fixei meus olhos no residente. Este me olhou rapidamente e disse, enquanto se dirigia à porta da zona restrita:
— A dilatação se completou, podemos ir para a sala de partos.
Bowlby, que foi um dos pioneiros na investigação do apego entre mães e filhos, dizia que o pai não tem nenhuma importância para o recém-nascido, e sua participação se resume em ser uma fonte de recursos econômicos e suporte emocional para a mãe. Apesar dessa posição pessimista quanto ao papel desempenhado pelo pai, vários outros autores demonstraram que o desempenho dos pais em sala de parto tende a ser muito semelhante ao que frequentemente é observado com as mães que acabaram de ter seus filhos. Dessa forma, os mesmos rituais de reconhecimento e de contato seriam estabelecidos não fossem as expectativas e os papéis sociais fixos encontrados nas sociedades. Livres das constrições e imposições sociais, os homens poderiam estabelecer as mesmas manifestações de apreço, carinho, apego e amor pelas suas crias que suas mulheres apresentam. Esse comportamento de formação de apego é o que se chamaria de “espécie específico”, e tem sua origem geneticamente determinada, segundo uma das hipóteses que existem contemporaneamente, de Wenda Trevathan, antropóloga americana que escreve sobre as origens do nascimento sob uma perspectiva evolucionista darwiniana. Hoje em dia muito se tem estudado a respeito da importância do pai na sala de parto, porque a pressão cultural pela participação ativa dos parceiros na hora do nascimento levou os profissionais, e mesmo os hospitais, a se prepararem para que a chegada do bebê ocorra preferencialmente com a presença do genitor. O próprio método Lamaze, dos anos 1960, estimulava a presença do pai como orientador, um condutor da paciente diante das agruras do trabalho de parto. O pai entrava no cenário do parto pelas mãos do médico, como seu ajudante de ordens.
Na atualidade, questiona-se novamente se a presença do pai seria benéfica para o bom andamento do parto ou se ele seria um intruso no cenário essencialmente feminino do nascimento. A verdade é que os comportamentos em sala de parto tendem a ser muito variáveis, desde pais que entram em perfeita sintonia com o processo de nascimento e dessa forma auxiliam a gestante durante todo o desenrolar do processo até pais que, pela sua intensa ansiedade diante do desconhecido, funcionam como “disseminadores de adrenalina”, como afirma o Dr. Michel Odent. Estes últimos funcionam como promotores do círculo vicioso de medo-tensão-dor descrito por Grantly Dick-Read nos anos 1930, e não foram poucas as vezes em que a saída desses pais nervosos da sala foi a responsável pela mudança radical e positiva no resultado de um parto. Entretanto, a experiência demonstra que, quando bem conduzidos e orientados, os pais são, via de regra, suporte emocional e afetivo de qualidade para a grávida. Além disso, a experiência viva da paternidade tem a potencialidade de fortalecer os vínculos desse novo pai com o recém-nascido, assim como estreitar os laços amorosos com sua companheira.
Pelo menos agora eu sabia que a espera estava por se findar. O bebê havia atingido a parte inferior do canal de parto. Minha insipiência médica me deixava à mercê do que era dito. O que sabia um aluno de terceiro ano da escola médica sobre partos? Quase nada. Sem perguntar se era permitido, invadi a área restrita do centro obstrético, depois de trocar de roupa no vestiário. A presença dos pais na sala de parto no início dos anos 1980 era vista com franca desconfiança. Somente eram “liberados” aqueles que tivessem solicitado com antecedência para os responsáveis pelo centro. Estar ao lado de sua mulher, filha, amiga ou irmã era uma concessão, nunca um direito. Eu conhecia essa norma, mas, mesmo sem pedir solicitação, adentrei a área de partos e deixei claro que esse direito era meu, e que ninguém poderia me impedir de estar ali.
Eu agora estava todo de verde. Estava igual aos residentes e doutorandos. Tive a sensação (que eu repetiria alguns anos depois) de que havia vestido a roupa do Super-Homem, o todo-poderoso ícone de Seinfeld. Menos charmosa, com menos glamour, mas que produzia os mesmos efeitos. Senti-me participante de uma confraria de homens que decidem sobre a vida e a morte de outros. Há poder maior que esse?
Ela foi colocada deitada de costas sobre a mesa fria. Ainda era cedo para que eu entendesse o quanto essa posição das mulheres ao parir obedecia a uma ordenação simbólica oculta e inconsciente, e o quanto era prejudicial tanto para ela quanto para o seu bebê. Naquele dia, porém, eu era apenas mais um pai desempoderado olhando atônito para uma mulher parindo inserida no modelo tradicional. Eu rezava e esperava o quanto podia; ela se esforçava além do que imaginava ser capaz. Fazia a força mais poderosa que seu corpo permitia. O alarido na sala vinha de todos os lados. As enfermeiras, os médicos, todos gritavam, como que querendo exorcizar a angústia que traziam dentro de si. Eu ficava parado, imóvel, assustado em um canto da pequena sala. Não ousava dizer uma palavra, porque temia que ela fosse interpretada como uma interferência, e me determinassem sair. Ela suava, pálida, jogando todas as gotas do seu sangue nos braços e no útero. Os minutos passam, e quanto mais tempo permanecíamos na sala de parto mais a ansiedade dos médicos aumentava. Eu já sabia, desde aquela época, que o relógio dos médicos é mais importante que a subjetividade de uma mulher parindo. Gordas, magras, altas e baixas; ansiosas, tranquilas, aterrorizadas e alheias: todas eram iguais perante a visão homogenizante da obstetrícia. Sua demora em parir era sentida como ameaçadora pela equipe, e a angústia do residente começava a aumentar. Sua testa destilava, e ele solicitava à enfermeira que a secasse. Eu observava as atitudes e anotava mentalmente. “Puxa, quando eu me formar, quero ter uma auxiliar só para secar a minha testa”. Brincava em solilóquio para afastar o pânico. Será mesmo que tudo está bem?
— Vou precisar de um fórceps — disse o obstetra.
Senti um medo vívido e dolorido pela primeira vez. Gritei em meus pensamentos:
— Lucas! Aguenta aí, meu velho! Eles querem puxar você!
A participação do pai no parto pode ser vista como um fato inato, geneticamente determinado, mas que não se expressaria na sua plenitude por fatores culturais e sociais. Mas também pode ser visto, alternativamente, como um processo de aprendizado absolutamente cultural. Ambas as formas de compreensão da “paternagem” coexistem na discussão contemporânea. De qualquer maneira, a expressão última desse fenômeno é recentíssima na história da espécie humana. Nunca, em nenhum outro momento da história, o pai teve tanta presença e importância no nascimento de seus filhos como a época em que estamos vivendo. O que se percebe pelas últimas pesquisas é que o envolvimento paterno intenso, quando permitido, fortalecerá os vínculos futuros de assistência e afeto, tanto em relação ao bebê quanto com a sua mãe. Esse aspecto novo nas relações humanas, conjugado com as modificações rápidas na sociedade nos aspectos sociais e econômicos, tem despertado o interesse de muitos pesquisadores a respeito das tendências comportamentais relacionadas ao papel da paternidade no futuro da humanidade. Nas palavras de Alice Rossi, “ou providenciamos uma compensação para o pai sob forma de treinamento nos cuidados com o recém-nascido, ou veremos um fortalecimento crescente da força e da importância da formação de apego entre a mãe e seu bebê, em função do fato de que a maternidade agora se estabelece por livre escolha e a figura paterna como fertilizador e provedor se encontra ameaçada”. Duas décadas se passariam antes que Maximillian, meu dileto colega e “mentor espiritual”, me contasse seu sonho pessimista sobre o masculino, mas que se encaixava perfeitamente no comentário acima.
Eu não sabia exatamente o que significava um fórceps, apesar de já ter visto alguns. No terceiro ano de medicina, mal havíamos estudado bioquímica. Nada de pacientes, muito menos de grávidas. O pouco que eu sabia havia aprendido nos plantões intermináveis do Pronto-Socorro. Duas colheres frias de aço, entrelaçadas formando um “x”. Duas mãos de ferro, a tracionar o pólo cefálico. Eu não tinha noção de morbidade relacionada ao seu uso, mas sabia que ali estava uma decisão que o obstetra estivera protelando pelos últimos minutos. Olhei mais uma vez para minha mulher. Cansada, frágil, fraca, intensamente bela. Mas também ela sentiu medo. O trovejar das colheres do instrumento de Chamberlain ecoou pela sala. Uma colher repousava na mão do residente, a outra aguardava na mesa.
— Fique em silêncio, não se mova… vou colocar a primeira colher. Vai sentir uma dor diferente, mas se você ficar quieta vai…
— Espera! — disse ela. O som saiu como um sopro por entre seus lábios sem cor. — Eu estou tendo uma nova contração. Deixe-me tentar de novo… por favor, uma última vez.
Em algum momento de nossa jornada na terra, tornou-se adaptativo para os homens tomarem conta de suas fêmeas e filhos. Contrariamente ao que acontece com outras espécies, em que a participação paterna é inexistente ou pouco importante, entre os humanos tornou-se fundamental a presença do pai para a segurança daquilo que nossa espécie de forma muito específica criou: a família. A altricialidade, entendida como a extrema dependência do recém-nascido aos cuidados dos seus genitores, produziu essa aproximação do pai, na medida em que era mais interessante, do ponto de vista do sucesso reprodutivo, cuidar de uma fêmea e sua cria frágil do que tomar conta de diversas fêmeas e correr o risco de perder muitos recém-natos. A conduta adaptativa das espécies sociais, como os primatas, necessitava de uma intensa colaboração entre seus participantes. As atividades dos agrupamentos começavam a priorizar um comportamento baseado na divisão de alimentos e posteriormente na divisão das tarefas na família. Essa modificação de tremenda importância na história da humanidade é a responsável por modificações na morfologia dos hominídeos, nos ecossistemas ocupados e na crescente dependência que se estabeleceu entre os recém-nascidos de nossa espécie, segundo as palavras do professor da Universidade de Kent, Owen Lovejoy, autor da famosa publicação “A Origem do Homem”. Este mesmo autor esclarece que a criação do núcleo familiar, pela disposição paterna de tomar conta de uma fêmea que lhe asseguraria a paternidade de sua descendência, produziu as condições necessárias para a supremacia da espécie humana, por fortalecer uma estratégia de cooperação e crescimento populacional. Assim, a paternidade, como fortalecedora do núcleo social, está relacionada à construção da humanidade como nós a conhecemos e concebemos. Hoje em dia cada vez mais a importância da interação afetiva (e não mais apenas econômica) é solicitada por parte do pai, e os valores da paternidade emergem em um mundo tão assombrado com as mudanças vertiginosas nos conceitos até então inquestionáveis sobre o nascer, reproduzir-se e morrer.
A colher na mão do residente resolve voltar para junto de sua irmã sobre a mesa. Ambas em silêncio decidem assistir à última força, a derradeira tentativa. O residente junta as mãos sobre o períneo de Zeza, como que a imaginar que delas surgiria a imantação a tracionar a cabeça de Lucas.
Então, o corte. Inevitável, cruel, cruento. Rasgava-se a carne, para manter intacta a estrutura social. Mantinha-se a ordem: “Só parirás se for através de mim. Pela minha mão sentirás em tua carne a lâmina grave que fere teu corpo. Ficarás marcada com a cicatriz eterna de minha presença. Terás teu filho pelas minhas mãos e por obra de minha vontade. Assim batizada, adentras o círculo da maternidade”. Também era muito cedo para me horrorizar com a barbárie das episiotomias injustificadas.
O que me lembro a partir desse momento é uma coleção de fotos mentais, coladas sem ordem no mural das lembranças mais cálidas. O choro, o medo, a emoção, a ansiedade, o alívio. A força suprema. O ápice da dor. O grito contido e a lágrima que escapa ao controle. As enfermeiras gritando, o médico com a respiração suspensa. Meu olhar fixo, e o coração parado.
Então ele aparece. Molhado, cabeçudo, “cabeça de ovo”. Tinha cara de “joelho”, como todo o recém-nascido, mas era incrivelmente lindo. Minha mulher dizendo que não conseguia ver direito, que queria tocar nele. A enfermeira secando sem cuidado; o corte rápido do cordão, privando-o das últimas gotas de seu próprio sangue, guardadas no claustro materno. A luz ofuscante da sala às claras, a pediatra chegando. Meu pobre filho sendo levado antes que minha mulher pudesse tocá-lo. Os comentários infelizes da neonatologista; o cansaço de Zeza. O abraço de minha mãe. Tudo se mistura, em uma amálgama de sentimentos, sensações, cheiros, cores e luzes. Mas ali estava ele. Sua primeira batalha havia terminado. E ali estava ela, radiante e gloriosa. Sua principal vitória como mulher tinha acontecido.
Olhei para suas feições procurando me enxergar. Na orelha, o mesmo furinho que o pai trouxe de nascença. O sorriso imaginado na contração do rosto mostra também as mesmas covinhas herdadas. Minha mulher não se importa que eu me julgue parecido; pelo contrário, sorri da minha necessidade de produzir uma vinculação. Sua ligação com a cria repousa sobre a evidência gritante e avassaladora da sua experiência corporal. Seus músculos doídos, sua sutura perineal, seu cansaço, tudo isso lhe prova. Toda a patrilinearidade da cultura se assenta sobre essa natural desconfiança sobre a linhagem paterna. Nós, homens, não experimentamos no corpo nossa descendência. Ela se instala na confiança e no desejo. Para criarmos essa certeza, lhes damos nossos nomes. Criamos neles a marca paterna, indelével e perene, para que nunca se apague nossa ligação, e nunca se duvide de nosso sangue.
Fixo-me em seus olhos. Olho atentamente para ele.
Você voltou, amigão.
Alguns anos se passam e a história se repete.
Acordo sobressaltado. Olho para o teto e descubro-me fora de casa. Estava na casa de praia e precisava acordá-la para contar o que havia acontecido.
— Zeza — digo eu. — O sonho… aconteceu de novo.
Ela primeiramente não entende. Olha para mim sem saber o que dizer. Aos poucos, sem mesmo precisar perguntar, vai se dando conta do que eu estava dizendo.
Conto-lhe o sonho, esmiuçando os detalhes. O mesmo lugar, a mesma estrada, o mesmo breu. Novamente a luz se faz à minha esquerda, e de lá brota a voz grave anunciando a chegada de mais um integrante da família.
— Preparem-se. Mais alguém está para chegar. Sua mulher está grávida de novo, e terá um filho que se chamará… Josué.
— Impossível — diz ela. — Impossível mesmo. Desta vez você está errado. Existe uma impossibilidade absoluta.
Fico em silêncio e resolvo esperar. Horas mais tarde, pergunto de sua menstruação e ela, um pouco irritada, me informa que “acabara de ter suas regras”.
Dou de ombros. Eu já sabia. Algumas semanas depois a realidade vem à tona, e a gravidez transformou-se, novamente, de sonho em fato.
O parto veio a acontecer três anos depois do parto de Lucas. Dessa vez, Zeza resolveu esperar em casa até o último instante. Foi a mais sábia decisão que poderia tomar. Sabendo de antemão do estresse relacionado à hospitalização, propositadamente adiou sua entrada no centro obstétrico o mais que pôde. Muitos anos ainda se passariam para que eu percebesse racionalmente o que ela intuiu naquela noite quente de primavera. Ela “sabia”, mesmo que inconscientemente, que a internação hospitalar fora a principal fonte de desequilíbrio no seu parto anterior. Entendeu que as horas que permaneceu no centro obstétrico foram extremamente estressantes e angustiantes, capazes de bloquear a progressão do seu trabalho de parto. Dessa vez, seria diferente.
O telefone tocou e do outro lado da linha a voz era suspirosa, entrecortada e tensa. No hospital-escola onde estava realizando meu último plantão como estudante, eu soube do que se tratava mesmo antes da primeira palavra. Zeza estava com contrações vigorosas, mas estivera em casa, fazendo o tempo passar, por várias horas. Esperou para me ligar apenas quando pressentiu que o momento era chegado. Eu a tudo escutei, e lhe disse que viesse ao hospital que eu me encarregaria de chamar os colegas.
Chegou lá com mais de oito centímetros de dilatação cervical, e minha filha nasceu pouco tempo depois.
Minha filha? Mas não era esperado Josué, aquele que derrubara as altas torres de Jericó com suas trombetas, conquistando a terra prometida para o “povo escolhido”? O que foi feito do guerreiro hebreu? Afugentou-se com a dureza da empreitada e ofereceu seu lugar a uma garotinha? Mistérios ainda não resolvidos. As múltiplas interpretações para esse fato ainda são motivo para acalorados debates em família.
Zeza, dessa vez, não teve tempo de ficar ranzinza. Do momento da internação até o parto, não se passaram mais do que duas horas. A sabedoria na parturição também ocorre com a experiência. Novamente eu estava junto dela, mas não precisei fazer pressão para ser admitido: eu era o doutorando do plantão obstétrico. Naquela noite/madrugada de dezembro de 1985, o acaso colocou no mesmo plantão do hospital o futuro pai, o pediatra, a obstetra e o tio médico. Todos estavam lá, sem que nunca houvessem combinado. Isabel, que era esperada como Josué, nasceu linda e charmosa. Também nasceu de um sonho, como seu irmão. Igualmente não foi planejada, mas a recebi como alguém que eu ansiava por reencontrar. Percebi claramente que eu precisava estar no nascimento de ambos para poder constatar a força transformadora que o nascimento produz. Para sentir a dor e a angústia de sentir-se sob o controle de algo muito maior. Sabia que este aprendizado seria fundamental para moldar o médico que eu queria ser. Depois disso, tornei-me um defensor do direito dos pais de assistirem ao nascimento dos seus filhos. Fui obrigado a comprar algumas brigas e criar algumas inimizades, mas percebi que estava tratando de um dos mais elementares direitos do homem: o direito de presenciar o milagre da vida, de assistir a criação da sua imortalidade.