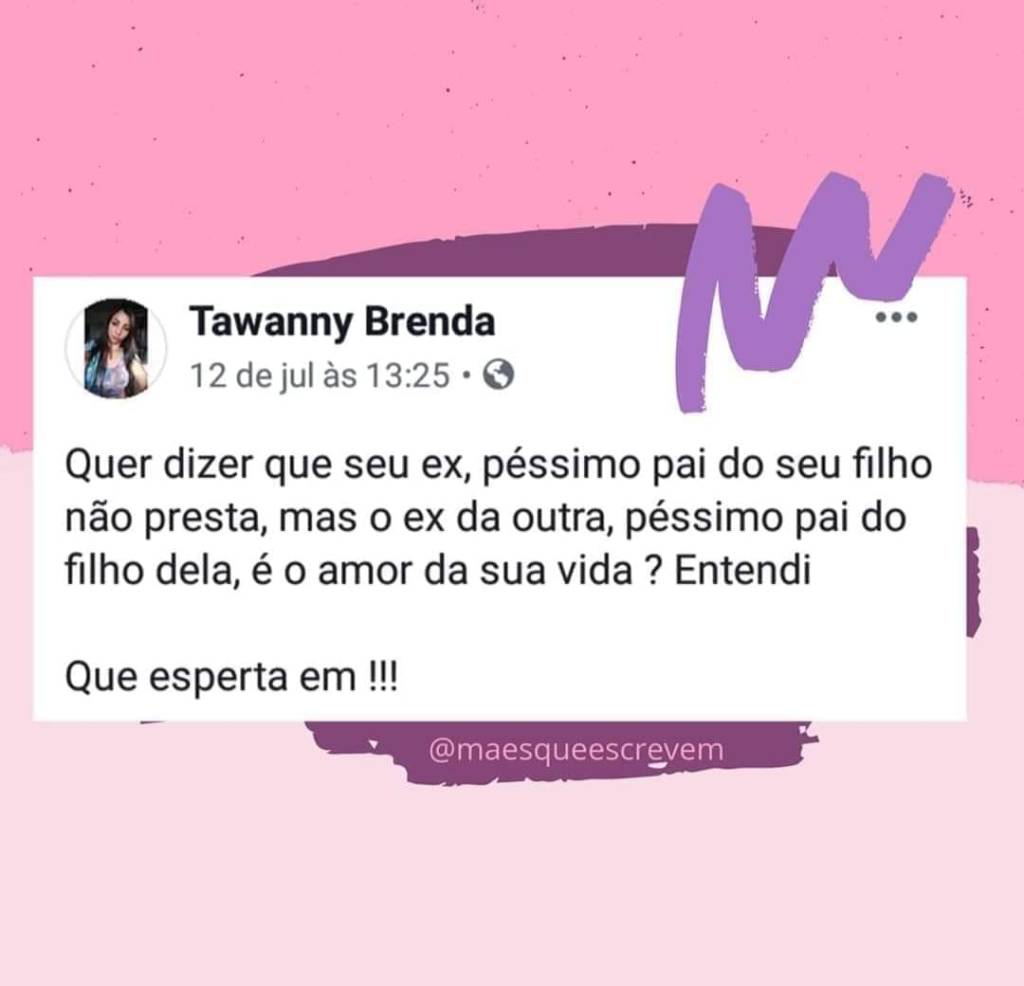O homem negro e magro entrou correndo na sala de atendimento com o filho desfalecido nos braços. No Pronto Socorro ele ultrapassou todas as portas aos gritos. “Salvem meu filho!!!”, gritava. Trazia nos olhos a marca rubra da embriaguez. O filho, também esquálido, não tinha mais do que 6 anos. Jogou a criança nos meus braços, jovem interno, estudante do 5o ano de medicina. Não houve tempo de chamar o médico responsável; corri com o menino nos braços e o coloquei sobre a maca de curvim azul.
– A gente estava num churrasco. Ele caiu e começou a tremer e chacoalhar. Tentei puxar a língua. Depois ele desmaiou.
O pobre homem trocava as palavras, enrolava a língua. Estava bastante embriagado, mas pude entender do que se tratava. Coloquei a mão sobre o peito do menino. O coração estava acelerado e a respiração normal. Em verdade, dormia. Estava em estado pós-convulsivo.
Eu também suspirei. Por um instante imaginei o pior. Atropelamento, bala perdida, acidente doméstico. Em verdade, o menino estava repousando seus sentidos após a descarga intensa de uma convulsão epilética.
O que eu ainda não sabia é que a sociedade não produz doenças em vasos estanques. Não havia apenas um paciente ali; ao meu redor havia pelo menos dois, além daqueles que ainda estavam por chegar. Um pai que passa pelo terror de carregar um filho supostamente morto nos braços também está enfermo, mesmo que nenhum órgão esteja (ainda) danificado.
– Ele está bem, disse eu afastando o estetoscópio do seu peito após escutar seus batimentos firmes e compassados. Pode aguardar ali fora, cuidaremos dele.
Nesse momento o homem se enfureceu. Fuzilou-me com seu olhar alcoólico e cuspiu as piores violências.
– Como pode estar bem? Estou vendo uma criança que não consegue acordar!! Ele vai morrer!! Vocês não estão fazendo nada!! Bandidos!! Façam alguma coisa!!
Ato contínuo, desferiu um soco no meu estômago. Senti o impacto duro do punho e meu corpo se projetou para trás. Ele, aparentemente assustado, recolheu os braços mas continuou os xingamentos. Meus colegas se colocaram entre nós, enquanto outros saíram da sala em busca dos seguranças.
Eu havia me tornado pai recentemente. Meu filho tinha poucos meses de vida. Podia ler nos olhos daquele homem a indignação, o medo, a dor e a impotência. Reconhecia estes signos e entendia essa fragilidade.
Quando os seguranças chegaram ele já estava mais calmo. Outros estudantes e o médico já lhe haviam confirmado o que eu tinha tentado explicar. Mais calmo ele começou a chorar. Sentou-se em uma cadeira no canto da sala e repetia “achei que ele tinha morrido”. Depois de uns poucos minutos levantou-se de lá, deu dois passos em minha direção e me abraçou. Entre soluços me disse:
– Desculpe doutor, eu estava com muito medo. Achei que tinha perdido meu filho.
Recordei essa história porque li de novo a reportagem que fala da agressão de um homem a um profissional que atendia o parto de sua esposa. Imediatamente houve a justa indignação da corporação, da imprensa e dos colegas.
Passei três décadas lidando com essa tensão e posso entendê-la. Pior ainda, atendia de forma não convencional, aguardando os tempos, respeitando a fisiologia e os desejos do casal. Todavia, nem sempre a “turma de fora” – a família e os amigos – pensavam da mesma forma. Não foram poucos os momentos de alto tensionamento.
Não há dúvida que há despreparo por parte dos familiares, por certo, mas também ocorre uma falsa expectativa produzida na cultura sobre os tempos do nascimento.
Além disso, nossa sociedade ainda acredita que a violência – física ou simbólica – é uma linguagem válida para solucionar conflitos.
Tanto na minha experiência como estudante quanto nos relatos de parto de que fui testemunha existem histórias colaterais que são igualmente interessantes. Por que explodiu dessa maneira? O que existe na sua história pessoal que foi despertado na tensão de um momento limite? Como atender estas pessoas que – assim como os doentes – também precisam de ajuda?
Claro que falta educação por parte de pais e familiares. Entretanto também é fato que os profissionais e os hospitais quase sempre estão despreparados para lidar com pessoas que enfrentam estas crises. É muito frequente que ao invés de acalmá-los, os ameaçam. Ao invés de conversar e tranquilizar oferecem cenários trágicos. Ao invés de valorizar sua presença e sua potencialidade positiva colocam valor apenas nos médicos, nos tratamentos e no hospital. O sujeito se sente encurralado; os profissionais sucumbem ao medo.
Todo mundo acha importante estudar o psiquismo das grávidas e (quase) ninguém se interessa pelos dramas emocionais dos pais, entretanto cobramos e/ou exaltamos a presença dos homens no evento. Da mesma forma, entendemos de forma bem precisa os mecanismos químicos que produzem uma convulsão, mas por vezes ignoramos como tratar a família que adoece junto com aqueles que sofrem este drama.
A atenção à saúde pressupõe uma percepção holística da doença, e uma abordagem inclusiva, que não despreza nenhum dos atores nela envolvidos.