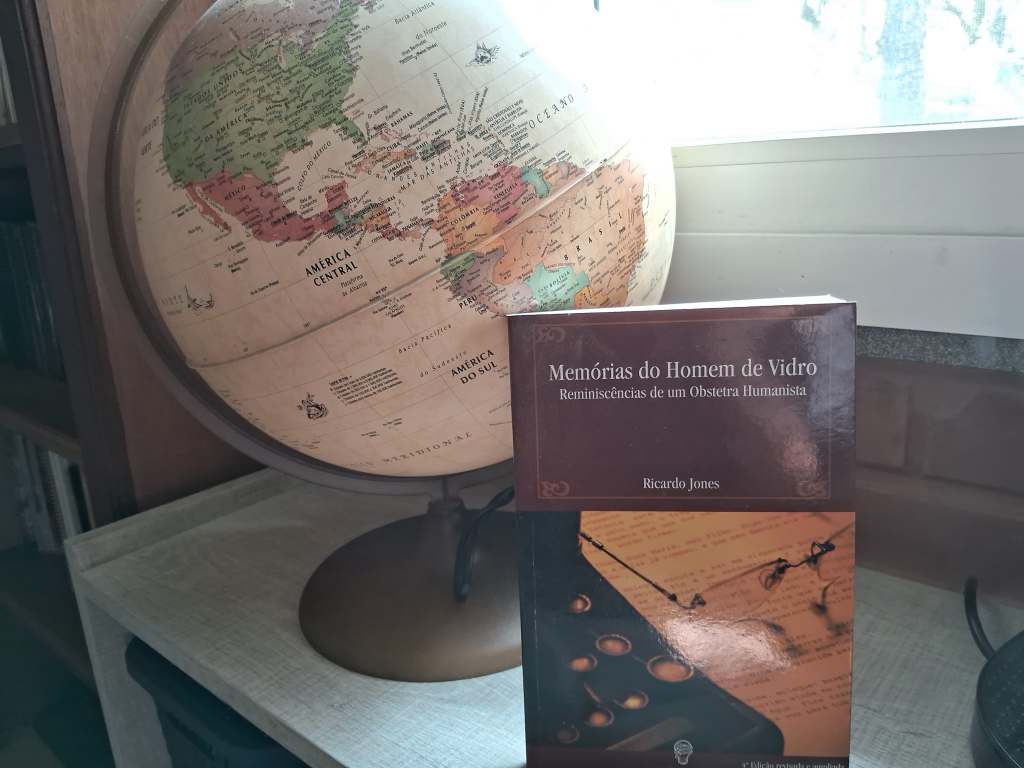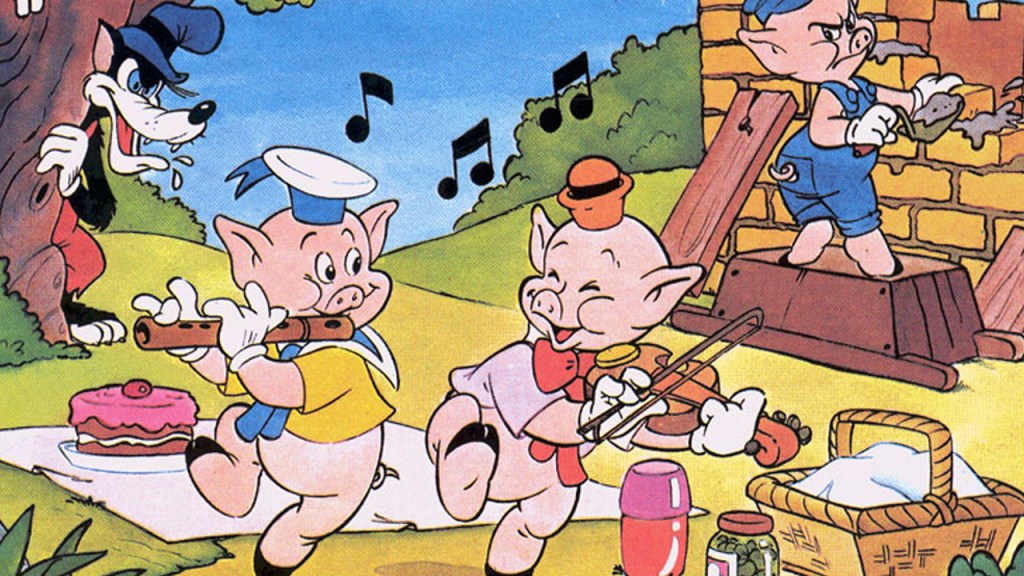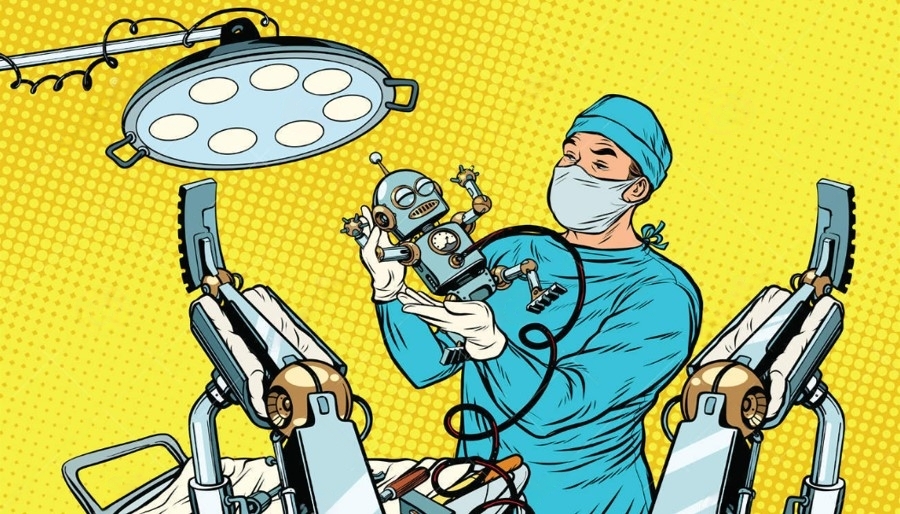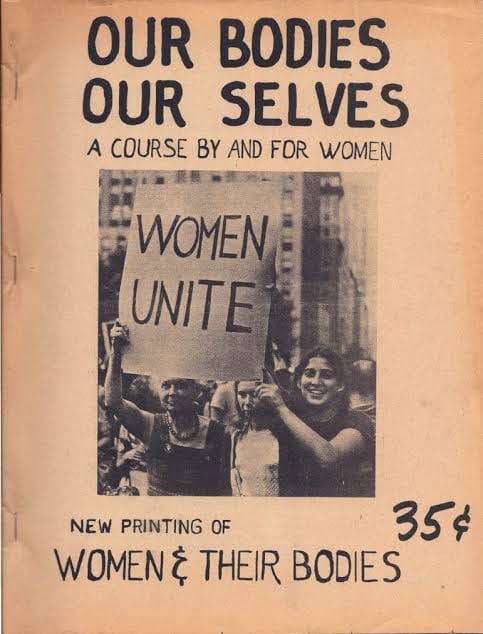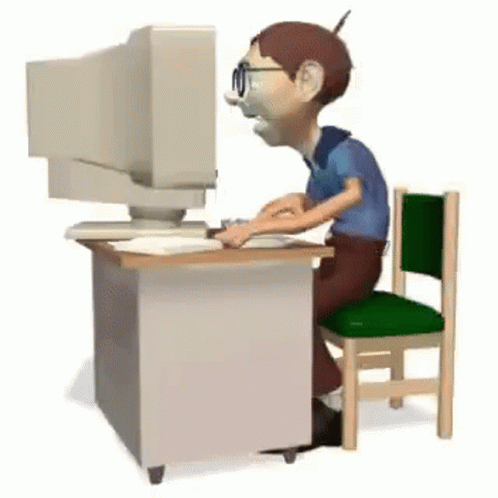Simulacrum
Passados alguns anos da saída da residência médica, minha inquietude com a obstetrícia atingia limites preocupantes. Já naquela época eu trabalhava em hospitais de periferia como plantonista do centro obstétrico. Nesses locais, eu podia vivenciar o tipo de obstetrícia que se oferecia à grande massa da população brasileira, pois a clientela atendida era basicamente formada por trabalhadores de baixa renda oriundos do cinturão de pobreza que circunda as grandes cidades. Ali, à margem dos grandes centros, os procedimentos rotineiros não diferiam muito daqueles que aprendi no transcorrer da residência médica. As condutas eram tomadas sem um critério sólido de embasamento científico, e atitudes aparentemente banais, como abolir a tricotomia (corte dos pelos pubianos), eram vistas pelos colegas e pela enfermagem com desconfiança e, muitas vezes, com explícita aversão. Eu, entretanto, já estava por demais contaminado com uma forma diferenciada de entender o parto, e essa compreensão se manifestava inexoravelmente na minha prática cotidiana, tornando-se um incontornável gerador de tensão.
Meu ingresso na profissão foi cercado de desafios e conflitos inevitáveis. Algumas auxiliares de enfermagem desses hospitais eram antipáticas aos meus procedimentos médicos, e dentre elas algumas eram manifestamente contrárias. Diziam que não achavam correto “deixar uma mulher para ter filhos como uma galinha botando ovo”. Não aceitavam a quebra que eu produzia em um modelo de partos que elas repetiam irrefletidamente havia mais de 20 anos. Para elas, as explicações científicas sobre a postura de cócoras, por exemplo, eram completamente inúteis, e me diziam que, “se fosse certo nascer assim, o senhor não seria o único a fazer”. Na verdade, elas acreditavam que eu assistia partos de cócoras só “para ser diferente e chamar atenção”. Nessa época, eu já era alvo do escárnio de alguns colegas, mas as próprias funcionárias, mulheres que tratavam de mulheres, eram tão ou mais cáusticas. Não foram poucas as que me informaram que não gostavam de trabalhar comigo, porque eu era “cheio de manias”. Minha presença era considerada uma ameaça. Minha pior “mania” era pedir que tomassem cuidado com tudo que fosse dito na frente das grávidas em trabalho de parto, porque sua fragilidade, causada pelo estado alterado de consciência, as tornava facilmente susceptíveis. A entrada de um centro obstétrico, além de ser um local de extrema violência institucional, é também um local onde se encontra muita “patologia da palavra”, que, em se tratando do nascimento, pode ser entendida como “a morbidade causada pelo uso inadequado de expressões, atos ou gestos que podem fazer a paciente adentrar o ciclo vicioso do medo-tensão-dor”. Maximilian, meu colega e “guru”, batizou esse processo de verbose.
Lembro-me de uma história em que a desatenção e o uso irresponsável de uma expressão colocou um grupo inteiro de pessoas em pânico. Nesse mesmo hospital de periferia, há mais de 10 anos, uma paciente adentrou o centro obstétrico com uma ultrassonografia demonstrando um abortamento fetal precoce, de menos de 10 semanas. Vinha encaminhada diretamente da clínica de ecografias, e parecia estar já conformada com a perda da gravidez. Apresentava sangramento vaginal moderado e o colo uterino estava aberto. Conversei um pouco com ela, expliquei como seria feita a raspagem uterina e pedi que o marido ficasse por perto para estar ao seu lado quando acordasse da anestesia. Ela concordou, mas pediu que eu falasse com ele, porque se encontrava nervoso e preocupado. Determinei, então, que uma das auxiliares de enfermagem solicitasse a presença do marido para falar comigo.
A funcionária prontamente dirigiu-se à porta de entrada do centro obstétrico e de lá disse em voz alta, dirigindo-se para a pequena aglomeração de familiares que aguardava informações:
— Por favor, o marido da paciente que perdeu o bebê, queira entrar para falar com o médico.
Detalhe: naquele momento, estavam internadas cinco ou seis pacientes em trabalho de parto. Para cada grávida, existem em média 2,5 acompanhantes, o que significava quase 15 pessoas aguardando, espremidas e ansiosas na pequena sala. Quando a funcionária disse essa frase, todos se ergueram em sobressalto para saber quem era a infeliz paciente que havia perdido um bebê. Afinal, poderia ser qualquer uma das gestantes internadas. Criou-se um alvoroço que só foi contornado quando eu expliquei a cada um a confusão, e reforcei que as suas esposas/filhas/irmãs, assim como seus bebês, estavam muito bem.
Apesar de a admissão nos centros obstétricos ser marcada por condutas equivocadas, como a narrada acima, era no interior deles que ocorriam as mais questionáveis e insensatas atitudes. Continuava sem entender porque, apesar de termos veículos ágeis e de fácil acesso, como a Biblioteca Cochrane, os livros do Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial da Saúde, poucos médicos se interessavam em discutir medicina baseada em evidências. Sentia-me isolado, porque, diante dos meus questionamentos, meus colegas frequentemente se justificavam dizendo que suas condutas estavam calcadas em “anos de experiência”, ou que “foram ensinados dessa forma pelo doutor Fulano, que era um grande mestre”. Não era fácil encontrar posturas críticas e criativas; a grande maioria repetia atitudes e jargões padronizados. Diante desse cenário de conformismo com o modelo vigente, minha prática como obstetra que assistia “partos de cócoras” era vista como “modismo”, algo estranho e sem importância, que apenas algumas mulheres eivadas de fervor místico consideravam digno de consideração. Eu era tratado como “sonhador”, ou alguém que enxergava a medicina de forma romântica e ingênua.
Meu sofrimento era incrementado pela ausência de explicações convincentes para as idiossincrasias da prática obstétrica. A despeito de ter percebido os maus resultados produzidos pela distância que mantínhamos das evidências científicas, eu ainda não tinha as respostas para uma pergunta que me torturava: por que, apesar das provas contundentes de que já dispomos, nós, médicos, continuamos a agir de forma mitológica e repetitiva, reproduzindo terapêuticas comprovadamente inúteis e/ou perigosas para as nossas clientes? O que nos movia? Por que a distância entre nosso saber e nosso gesto? Por que nossas condutas eram tão afastadas do cientificamente comprovado como útil e seguro?
Naquela época, esse hospital tinha índices de cesarianas superiores a 45%, e questionar a validade de, por exemplo, episiotomias de rotina (entre outras condutas corriqueiras e igualmente equivocadas) era considerado quase um sacrilégio. Essas perguntas, relativas às práticas comprovadamente ineficazes ou inadequadas, eram frequentemente respondidas pelos colegas com afirmações do tipo: “É o efeito inercial; agimos assim porque mudar é sempre complicado e difícil. Fomos treinados em um determinado tipo de proceder e nos mantemos nele por hábito”. Em uma frase que acabou famosa através de uma tese da Dra Simone Diniz, uma ginecologista explicava a razão pela qual aplicava episiotomias nas suas pacientes, apesar de saber de sua inutilidade: “Eu até tento não fazer, mas minha mão parece que vai sozinha!”. Também chamavam essa conduta repetitiva e automática de “hábito vicioso”, que poderia ser definido como a “dificuldade em mudar um procedimento previamente conhecido que nos oferece a segurança de um resultado previsível”.
Nada disso me satisfazia. Eu costumava responder a essas afirmações com uma pergunta capciosa: “Se você ganhasse um milhão de dólares na loteria, continuaria indo para o trabalho de ônibus porque teria dificuldade em romper um hábito de 25 anos?” Nunca escutei nenhuma resposta afirmativa a essa pergunta; ninguém manteria um costume como esse sem ter uma boa justificativa. A tese de “repetição inercial” ou “hábito” parecia querer esconder motivações inconscientes, que provavelmente seriam complexas ou constrangedoras demais para serem explicitadas.
Mas que motivações inconscientes seriam estas? Tratar-se-ia, por acaso, de sadismo por parte dos médicos? Utilizariam eles cesarianas em excesso, enemas, tricotomias, episiotomias etc., muito além do que seria medicamente admissível, apenas para que suas pacientes sofressem intervenções injustificadas? Seriam os médicos tolos, ignorantes e cegos às realidades disseminadas modernamente sobre a validade desses procedimentos? Não pareciam ser estas as respostas. Rebater as críticas a uma prática médica cientificamente equivocada com argumentos de ordem moral me parecia uma tática escapista, muito utilizada para explicar outros fenômenos sociais. Assim era com a criminalidade, tratada como uma mácula social criada pela ausência de valores éticos, dessa forma mascarando as questões econômicas e culturais envolvidas na distribuição da riqueza. Não me permitiria acreditar nessa interpretação tacanha da realidade, que mais escondia do que revelava respostas. Deveria existir algo mais profundo, recôndito e de difícil acesso que pudesse responder a essas questões.
Se as explicações eram escassas, os fatos, por sua vez, eram inquestionáveis: bastava uma passada superficial pelas estatísticas para perceber a brutal distância entre realidade e evidências científicas. Na minha cidade, existiam hospitais privados em que o índice de cesarianas era maior do que 80%. Essa realidade ainda vigora incrivelmente nos dias de hoje, e depois do trabalho de Joe Potter e Kristine Hopkins (mostrando que as cesarianas não são a preferência das gestantes, como foi historicamente apregoado) já não podemos culpar as mulheres pela opção insensata do nascimento pela via cirúrgica. Nossa mortalidade materna, que estava nessa época em um patamar superior aos atuais 75 por 100 mil nascimentos, é fortemente ligada às hemorragias e infecções — muito mais frequentes nas cesarianas — e está entre as mais altas do mundo, pareada com os mais pobres países da África. Onde estaria, então, a resposta para esse divórcio entre ciência e prática médica?
As explicações para o intervencionismo no nascimento humano às vezes apresentavam características que oscilavam entre o absurdo e o bizarro. Em uma conversa que tive alguns anos atrás com um colega obstetra durante o congresso de ginecologia e obstetrícia da Febrasgo no início deste milênio recolhi essa pérola, que tentava explicar o índice abusivo de cesarianas no nosso país. Dizia ele, com ares de inequívoca sapiência, que o problema do excesso das cesarianas no Brasil estava relacionado com a miscigenação entre negros e europeus, pois criava as condições para uma desproporção céfalo-pélvica. Sendo os negros menores e mais “estreitos”, acabavam por obstaculizar o nascimento de indivíduos com genes europeus, maiores e mais largos. Olhei para o colega sem acreditar na seriedade da sua tese racista e disse-lhe: “Mostre-me seus dados! Estarei pronto para acreditar nisso se o senhor me apresentar de onde saiu essa afirmação”. Ele, obviamente, nunca me enviou nenhuma informação sobre isso.
Comecei então a procurar em outras áreas do conhecimento as respostas que a medicina não me apresentava, principalmente na história, na psicanálise e na antropologia. Passado algum tempo, caiu-me nas mãos um dos artigos mais estonteantes sobre a obstetrícia contemporânea que eu já havia colocado meus olhos: Obstetrical Training as a Rite of Passage, de Robbie Elizabeth Davis-Floyd. Robbie é uma antropóloga americana e ativista do nascimento, que escreveu vários livros e artigos sobre o parto humano através de uma visão antropológica. Encontrei esse artigo “por acidente”, ao vasculhar as referências bibliográficas do livro Obstetric Myths and Research Realities, da educadora perinatal Henci Goer. Os capítulos finais desse precioso livro são todos dedicados ao modelo que Robbie descreveu sobre as motivações para os procedimentos repetitivos e ritualísticos da prática médica contemporânea.
Foi uma descoberta reveladora e violenta. Ali, pela primeira vez, encontrei o significado da ritualística médica, tecnocracia e rituais de passagem. A leitura desse artigo — e posteriormente de todos os livros publicados pela Dra. Robbie — fez com que o meu entendimento sobre a obstetrícia desse uma guinada fabulosa, levando de roldão toda a minha vida.
Coincidentemente, poucos meses depois da leitura deste artigo, chegou na minha cidade o filme “Matrix”. Seduzido pela expectativa de um filme de aventuras e ficção científica, acabei sendo surpreendido por uma instigante e estonteante metáfora para a compreensão do mundo contemporâneo, que produziu um profundo choque no meu entendimento sobre a realidade circundante. A partir de então, fiquei tão impactado com essa coincidência que comecei a traduzir o mundo em que eu estava inserido através da metáfora poderosa dos irmãos Wachowski.
Quando saí do filme, em 1999, estava acompanhado dos meus fiéis escudeiros, Lucas e Bebel. Só me permito ir ao cinema assim escoltado, porque depois de qualquer sessão se forma um debate acalorado sobre o filme, regado a Coca Light e suco de laranja. Sempre assim, mesmo que o filme seja insuportavelmente ruim. Dessa vez, não foi diferente. Saí da sessão com a nítida sensação de que havia visto mais do que um filme. Havia assistido algo que tinha a ver com a minha vida, e uma maneira específica de enxergar o mundo. Ainda emocionado, encarei meu filho Lucas e, com o dedo apontando ameaçadoramente contra seu peito, disparei:
— Lucas, não permita que seus olhos o enganem. O mundo é feito de ilusões, e a maior delas é a de que elas são obra apenas de nossa imaginação. A ilusão é a face oculta da realidade. Olhe para o simbolismo abrangente contido nesse filme. Não permita que os efeitos especiais ofusquem sua compreensão da verdade, verdade esta que se esconde por detrás do meramente manifesto aos sentidos mais grosseiros. Existe algo de Matrix aqui, nesta cafeteria. Existe algo de Matrix na sociedade em que vivemos, assim como dentro de você. Os meandros do seu inconsciente escondem porções que seriam violentas até mesmo para a sua integridade. Tem certeza de que é realmente Coca-Cola o que você está bebendo?
Lucas me encarava com atenção, e certamente levou a sério o que eu estava dizendo. Olhou para o meu dedo em seu peito e sorriu. Seu sorriso me dizia que também acreditava em uma forma outra de ver a realidade, apesar da sedução apresentada pela experiência cotidiana dos sentidos. Bebel sacou na hora. Olhou para o suco de laranja e fez cara de nojo. Voltou-se para mim, com a face ainda contorcida, e disse:
— Vou devolver esse suco, “paps”; está cheio de “bits e bytes”!
A possibilidade de analogias infinitas e criativas com o mundo que nos rodeia me pareceu fascinante desde o princípio. Entendi que o mundo, assim como em Matrix, é sustentado por uma arquitetura invisível, criada por nós mesmos, para nos fixar ao core system da sociedade, e consolidar os valores fundamentais sobre os quais nossa vida social se assenta. Somos tão somente seres guiados por forças incorpóreas e poderosas sem que nos apercebamos disso. Agimos socialmente tal qual marionetes, sustentadas por finos arames invisíveis ao olho desarmado. Imediatamente, inseri a obstetrícia contemporânea nesse cenário, e sobre essa ideia tracei os inevitáveis paralelos com o trabalho de Robbie E. Davis-Floyd, que incrivelmente não assistira Matrix.
“O que quer a Matrix?”, perguntaria em “A Pílula Vermelha” o articulista Read Mercer Schuchardt. “Ela quer manter a nós, humanos, escravizados pelas nossas ilusões, a principal das quais é a de que tecnologia não nos escraviza, e sim nos liberta.”
Percebi a existência de uma ultraestrutura que governa o atendimento às mulheres gestantes e que pretende conformá-las com o mundo como foi construído, para que obedeçam ao sistema sem contestá-lo. A gestação, com sua natural fragilidade, é o momento ideal para determinar a posição específica da mulher na sociedade, assim como ensiná-la (doutriná-la) sobre a forma como seu filho deve ser inserido na mesma. Apesar da presença de absurdos incontestes, equívocos inaceitáveis e crenças insustentáveis, a fé no sistema, e nos seus condutores, deve persistir. Olivier Clerc, pensador francês contemporâneo, alinha de forma muito curiosa a forma da medicina atual lidar com a realidade e suas interpretações, pareando-a com a religião e considerando-a a sucedânea desta no imaginário social, no qual a “verdade” pode ser buscada através dos “clérigos modernos”, que parecem ter trocado a batina pelo jaleco. Diz-se de Santo Agostinho, padre dos padres, a frase “Credo quia absurdum” (creio por ser absurdo), e nisso colocava a força de sua fé. Parece que dos médicos solicita-se o mesmo tipo de vinculação poderosa e pré-racional a um modelo religioso e mítico, porque essa ligação é fundamental para a manutenção do sistema.
No que tange à obstetrícia e ao nascimento humano, hoje em dia o sistema mitológico, etiocêntrico, iatrocêntrico e hospitalocêntrico da medicina ocidental nos pede que acreditemos que as mulheres são incompetentes para gerar e parir seus filhos, mesmo que nos demonstrem diuturnamente sua capacidade e talento. A epidemia de cesarianas e, modernamente, as terapias de reposição hormonal, a ideologia da ablação menstrual e a proliferação de clínicas de fertilização artificial são demonstrações claras de uma visão específica da sociedade sobre o feminino e a mulher. Essas manifestações e fenômenos sociais ganham sentido contemporaneamente porque nos levam diretamente ao âmago do sistema de valores de nossa sociedade, que se ergue em nome do patriarcado e do capitalismo, através de um modelo cartesiano de percepção da realidade. No sistema patriarcal, não há lugar para mulheres poderosas e livres. Elas devem acreditar — como os habitantes da Matrix — que o lugar onde estão (o sistema de valores que as considera subcidadãs) é o melhor para elas. Esse modelo é o cimento básico que nos une. Temos medo de perder o controle sobre tudo o que construímos enquanto humanidade. Uma sociedade baseada na igualdade nos amedronta.
Em um mundo que dissemina a inferioridade básica das mulheres, é necessário que elas mesmas sejam convencidas dessa realidade, assim como é necessário que o pobre se convença de que sua pobreza é obra do destino ou de sua etnia, para que o mesmo não confronte o sistema distribuidor de riquezas. Toda a construção da obstetrícia contemporânea se assenta sobre a crença básica da defectividade essencial das mulheres porque, baseada nesse modelo, a medicina obstétrica poderia construir as ferramentas e tecnologias adequadas para consertar esta “máquina”, agora entendida como equivocada e defeituosa, como bem nos revelou Robbie Davis-Floyd. Mas essa visão sobre o parto não se estabelece em um vácuo conceitual. Outros acontecimentos exclusivamente femininos como a menstruação — chamada por alguns de “sangria inútil” — e a menopausa são exemplos claros de eventos fisiológicos tratados pela ciência médica como patologias. Minha pergunta aos colegas na época era: que evento fisiológico masculino merece um tratamento pela medicina contemporânea?
Recebia apenas sorrisos como respostas. A verdade é que o homem não necessita ser tratado em sua normalidade funcional, porque ele é o espelho de Deus. Ele traz consigo a perfeição Divina in essentia. O contrário acontece com a mulher. Culpada, entre outros crimes, pelo “pecado original”, foi punida pelo Senhor com a pena dos partos dolorosos e do sangramento mensal. Mulheres são a falha, o desajuste e o equívoco da criação. Henci Goer, educadora perinatal americana e ativista do CIMS – Coalizão para a Melhoria dos Serviços de Maternidade fala que a medicina trata como disfuncional tudo aquilo que foge ao padrão. O parto foge dos padrões da normalidade porque não ocorre nos homens.
Levando mais adiante nossa ideia, mais do que acreditar na sua defectividade, faz-se mister que as próprias mulheres disseminem essa crença. Iniciando esse processo, é fundamental que elas sejam doutrinadas desde o berço com a ideia de que uma mulher tem uma incompetência básica inata, que faz com que qualquer uma de suas decisões tenha que passar, em última instância, pela ordem do masculino. O parto, momento apical da feminilidade, é o momento ideal para que essas crenças sejam reforçadas e disseminadas. Ali podemos encontrar todos os valores sociais profundos encenados de forma sutil, mas poderosa. A natural abertura sensorial determinada pelo evento nos propicia a possibilidade de instruir as mulheres e seus filhos nas posições específicas que desejamos que ocupem na estrutura social. Por essa razão, o estudo da simbologia representada no nascimento nos leva ao cerne dos valores mais profundos que estruturam nossa civilização.
Olhar para esse cenário de fora da Matrix é angustiante. Uma tortura. Em Matrix, diante da verdade revelada a Neo por Morpheus, este inicialmente negou. Depois vomitou. Desperto do sono tecnocrático, não queria acreditar no que via. Não suportou a confrontação da imagem que nutria da humanidade com a dura realidade que seu libertador lhe apresentou. Teve náusea, fruto da impotência diante de um sistema muito maior do que ele próprio. Sentiu-se fraco e desesperançado.
As pessoas que se defrontam com essa nova forma de encarar a realidade na medicina (assim como em outras áreas do conhecimento) acabam sofrendo o mesmo processo pelo qual Neo (de “novo”, mas também um anagrama de “one”, o “um”, ou mesmo “éon”, energia emanada de um ser supremo) passou ao ser resgatado da fantasia da Matrix. Dor, sofrimento, negação, angústia, tristeza, remorso, vergonha. Descobrem também que é necessário passar por um ritual de despojamento das falsas certezas e do orgulho rastejante para, assim renovadas, serem verdadeiramente leais com sua própria existência. Lembram que nosso herói fica nu ao ser desplugado? Parece mesmo a nudez de São Francisco de Assis no filme Irmão Sol, Irmã Lua, quando este abre mão de seus valores — dinheiro, roupas, crenças — para adentrar uma vida de desapego aos valores mundanos.
Não existem orgulhosos no céu.
A leitura do artigo de Robbie, que se transformou em um maravilhoso capítulo do seu livro Birth as an American Rite of Passage, me deu a exata dimensão de minha arrogância e da minha estupidez, mas ao mesmo tempo me deu a esperança de que apenas através do reconhecimento de nossas próprias fragilidades é que podemos nos fortalecer. “Toda a vitória se ergue dos escombros de uma derrota”, como sempre me dizia Max. Toda relação pessoal se instaura sobre um fracasso egoico. Toda esperança se cria quando reconhecemos nossas fraquezas. Neo percebeu sua vocação libertária ao se defrontar com sua infinita pequenez e insignificância, mas para isso foi necessário despertar no “campo de cultivo”, as plantações em que a humanidade era usada como “energia barata” pelas máquinas.
Matrix está aí fora, criando nas mulheres a ideia de que, se elas se submeterem aos ditames que “sempre existiram” e que “incontestavelmente são os verdadeiros” (em outras palavras, a “realidade expressa”, o roteiro que se aplica sobre as marcas do real), elas estarão seguras para todo o sempre. A Matrix quer fazer acreditar que sem as máquinas (tecnologia/masculino/instituição) nenhuma mulher pode arcar com suas aptidões biológicas. A Matrix não admite que o poder seja repartido ou que a fraternidade seja um modelo factível de relação entre as pessoas. A Matrix nos diz que a estrutura básica deste mundo não pode ser mudada, sob pena de que esse mesmo mundo venha a ruir.
Ao acordar no mundo real, Neo foi avisado por Morpheus de que a dor que sentia nos olhos se devia ao fato de que nunca anteriormente havia enxergado. Ao negarmos a oportunidade de vislumbrar a dura realidade de um sistema de crenças centrado no poder dos que dominam a tecnologia, sucedânea contemporânea da religião, ficamos também cegos às verdades outras que surgem da própria experiência feminina com o nascimento. Disse-lhe também que pessoas mais velhas — e talvez aqui “velho” não esteja necessariamente ligado à idade cronológica — dificilmente eram libertadas da Matrix, porque o resultado era invariavelmente ruim.
Algumas crenças ficam tão impregnadas que não esvaecem jamais. Neo, em Matrix, escondia seus programas piratas em um livro que retirou da estante. Nesse livro, além de vários discos, havia um maço de notas, mostrando um aspecto mercantilista do personagem; era, provavelmente, o combustível para que ele pudesse subsistir na Matrix. O nome desse livro é Simulacra and Simulation, de Jean Baudrillard. Nele Baudrillard apresenta as teses fundamentais do pós-modernismo. A ideia básica é de que o mundo real não mais existe, permanecendo entre nós apenas o seu simulacro. Após a criação da linguagem, o “mundo real” deixou de ser possível, como nos ensinou Lacan, sobrevivendo apenas a sua versão, construída por nós. O parto real não mais existe, apenas a variante que criamos dele, construída pela medicina ocidental contemporânea.
Remontando-nos a outro filme, O Sentido da Vida, no capítulo “O Milagre do Nascimento”, os comediantes ingleses do Monty Python nos mostram uma cena de nascimento hospitalar contemporâneo, em que aparece como estrela principal não a mulher parindo, mas a máquina que faz “ping”. Indagados pela angustiada paciente do que se tratava tal máquina, explicam, orgulhosos, que essa tecnologia era a que “poderia dizer se o bebê ainda estava vivo”. No caso, era a tecnologia quem ditava as percepções maternas, como na famosa imagem apresentada por Robbie em uma de suas palestras, na qual uma mulher observa o monitor fetal acreditando que os batimentos cardíacos que ela escuta são verdadeiramente produzidos pela máquina, e não pelo seu bebê. A verdade subjugada pela sua interpretação.
O Dr. Marsden Wagner, da OMS e ativista da humanização do nascimento (que para a minha trajetória funcionou como Morpheus para Neo), costuma contar a história de que, falando para médicos em grandes audiências, solicitava: “Ergam o braço quem dentre vocês já acompanhou um parto domiciliar”. A reação era invariavelmente a mesma: em uma plateia de 400 médicos, nenhuma mão se erguia. Aqui aparece a face pós-moderna mais dolorosa da medicina: perdemos totalmente o contato com a realidade do nascimento. Perdemos seu odor, seu clima, sua temperatura e gosto. Nós, médicos, só conhecemos a sua representação, seu simulacro, sua imagem refletida na parede da tecnocracia. Continuando o raciocínio do articulista Dino Felluga, no seu artigo Matrix: Paradigma do Pós-Modernismo ou pretensão intelectual?, “fizemos um roteiro tão assemelhado com a verdade que aquele se justapôs a esta. Hoje em dia, a realidade é que se desfaz por entre as linhas riscadas do mapa”. Mentimos o parto, falseando a natureza.
Minha mais agradável fantasia é imaginar The Farm, no Tennessee, a comunidade pós-hippie onde trabalha e mora a parteira Ina May Gaskin, como a Zion de verdade, onde o nascimento pode ser tratado despido das múltiplas capas que o aprisionam no mundo tecnológico. Nesse “laboratório” de afeto e sexualidade aplicada ao nascimento, já ocorreram mais de 2000 nascimentos desde os anos 70, e a taxa de intervenção é baixíssima (índice de cesarianas de 1,4%), com resultados maternos e neonatais superiores aos melhores centros tecnológicos do mundo. Por que a obstetrícia contemporânea desvia seu olhar desse tipo de realidade? Por mais que continuemos em uma realidade artificial criada pela cultura, como disse Morpheus, “um mundo que foi colocado em frente aos seus olhos para cegá-lo da verdade”, o mundo real continua existindo como “farpa na sua mente que o faz enlouquecer”, demonstrando, através da inquietude, da indignação surda e da inconformidade, a possibilidade de questionar as ideologias dominantes. A sexualidade viva que emana de uma mulher parindo, ou a ideia de uma “Xanadu” pós-moderna, em que o parto poderia ser vivido como um processo de empoderamento feminino e em estado de graça, funcionam como as mais doloridas farpas com que convivo.
Por outro lado, quais as estratégias de mudança no modelo vigente? Como convencer os médicos a modificar suas condutas, direcionando-os para uma postura profissional embasada em evidências e centrada nas necessidades de suas pacientes? Além disso, como se comporta um sistema que se ergue sobre um modelo cartesiano, positivista, capitalista e patriarcal e que coloca um profissional, invariavelmente mal pago e pressionado por resultados, como seu “ponta de lança”? Tentemos fazer esse médico mudar sua conduta profissional, mostrando que suas atitudes médicas, mesmo que aceitas por seus pares, arriscam a vida de suas pacientes e bebês, e ele lhe dirá que, no atual contexto médico e jurídico, apenas os que defendem o parto humanizado e a medicina baseada em evidências é que são condenados.
A realidade do dia a dia nos demonstra que os médicos são também vítimas desse paradigma, criado por todos nós. Nesse modelo, baseado no medo ancestral da confrontação com o desconhecido, somos levados a criar sistemas de crenças e rituais que nos oferecem a ilusória ideia de controle sobre a natureza. Sobre essas crenças, passamos um fino verniz de intelecto, para que elas fiquem justificadas perante nossa visão racionalista, como nos fala Olivier Clerk. Médicos confrontados com o nascimento humano sentem medo porque esse evento foge ao seu controle, tal qual a erupção de um vulcão desobedece nossas vontades. A forma ritualística de realizar procedimentos obstétricos padronizados produz um senso de ordem cultural que se impõe sobre o caos da natureza, o que nos produz alívio, assim nos falava Robbie Davis-Floyd em Birth as an American Rite of Passage.
Nosso sistema de saúde é completamente aderido à Matrix. Somos governados por um modelo de crenças tecnológico, naquilo que se chama modernamente de “infotecnocracia”, que é a “ideologia que coloca em posição de poder aqueles que controlam a tecnologia e a informação” conforme a definição do antropólogo americano Peter Reynolds. Ela se comporta como o “sistema operacional” da Matrix contemporânea ocidental. Basta olhar ao redor e perceber isso no nosso quotidiano. Mesmo que a biblioteca Cochrane e a OMS despejem toneladas de informação a respeito da forma segura — e barata — de tratar as mulheres, grávidas e puérperas, continuamos atrelados ao sistema mitológico em que fomos inseridos, porque o modelo obedece às premissas básicas desse sistema de crenças. É o que chamaríamos de “mapa” ou “roteiro” do parto, o que Baudrillard chama de “segunda ordem da simulação”, em que o simulacro mascara a realidade. O parto tecnocrático como o conhecemos é uma alegoria do que é em verdade, e só a confrontação com o fenômeno na natureza é que poderia nos livrar do engodo da simulação.
Muitos anos depois, Madalena me ofereceria essa confrontação, permitindo-me a possibilidade de ver outra realidade. Usando a metáfora de Marsden Wagner em Fish Can’t See Water, a experiência com o parto desmedicalizado, fora do contexto da tecnocracia, seria o salto para além da superfície do oceano, que permitiria ao peixe perceber a água em que esteve sempre envolvido. “Fora da infotecnocracia não há salvação”, diz o apologista da tecnologia aplicada ao nascimento humano (e que, obviamente, lucra com ela). Não conseguimos, a não ser com uma quantidade enorme de esforço e sofrimento, nos desvencilhar disso, porque os que se atrevem a sair da Matrix tecnocrática são vistos como heréticos e perigosos. Em grego, “hairetikós” significa “aquele que escolhe”. Ter a possibilidade libertária de escolher nos torna hereges e, portanto, suscetíveis de perseguições. Curioso, apesar de trágico, é perceber que frequentemente, como Cristo ou Neo, os hereges são apedrejados exatamente por aqueles a quem tentam libertar!
“Tudo se resume a escolhas”, disse Neo ao Arquiteto. Escolher. Decidir seu destino. Fazer caminhos com suas próprias pernas. Nada mais revolucionário, perigoso e… herético. Apenas para citar uma ritualística ainda firmemente incorporada à prática médica, temos a episiotomia rotineira realizada nos hospitais de nosso país. Nessa questão específica, o bem-estar ou segurança da paciente não é o fator que mais se considera ao se traçarem protocolos. Se fosse assim, bastaria ler artigos, estudar prós e contras, e tudo se resolveria. Convenientemente, não faríamos uma cirurgia mutilatória que nunca conseguiu provar sua validade como procedimento de rotina. Dessa forma, a episiotomia seria realizada de forma ética e em um número muito reduzido de casos.
Não é o que acontece. Diante das evidências contra a sua realização de rotina, que se acumulam há mais de duas décadas, é muito difícil entender porque essa cirurgia é feita em até 95% dos partos no meu país, quando deveria ser feita em menos de 10%. Sem uma explicação de caráter médico, e não caindo na ingênua armadilha do “hábito”, é fundamental entender em que espaço de discussão — técnico, sociológico, psicológico, antropológico — ela pode ser inserida. Robbie, mais uma vez, mostrou-nos o caminho para a compreensão dos rituais que se desenvolvem nos ambientes hospitalares em se tratando do nascimento humano. Existem inúmeros fatores que nos impulsionam a realizar procedimentos médicos: o mais poderoso de todos é a ritualística. É importante salientar que os procedimentos ritualísticos podem ser (e frequentemente o são) ao mesmo tempo simbólicos e operacionais. Isso quer dizer que o fato de uma episiotomia ter uma explicação médica (mesmo que falsa) — como proteger a vagina de lacerações e fragilidades do assoalho pélvico — não impede que ela seja realizada com um poderoso conteúdo simbólico.
Fazemos episiotomias ritualisticamente. Também vestimos branco, usamos um jargão hermético, fazemos tricotomias e enteroclismas de forma ritual. O ritual existe no comportamento humano para conformar a realidade a um padrão racional e fenomenológico previamente reconhecido. Realizamos isso no nosso dia a dia, e fazemos isso desde que o mundo é mundo, e desde que temos medo do caótico e do incerto. Essa é a razão básica pela qual lançamos mão de rituais sempre que nos deparamos com a incerteza dos fenômenos naturais. Todos estes são fenômenos dominados por uma instância superior à nossa consciência, mesmo que, nos dias atuais, já tenhamos desvendado alguns segredos que estavam escondidos da nossa razão. Ainda vemos a natureza com medo e assombro. Mesmo assim, a essência desses acontecimentos continua submersa em um oceano de mistérios. Para fugir do pânico que nos assola ao olhar para a face lívida do desconhecido, criamos rituais, que tentam fazer com que esses eventos se ajustem aos nossos padrões de compreensão racional. Assim sendo, acreditamos sinceramente que o sacrifício dos carneiros poderia satisfazer a sede de vingança das tormentas e pensamos que rezar uma “Ave Maria” exatas 75 vezes vai fazer nosso time fazer um gol nos últimos cinco minutos da partida.
Da mesma maneira com que afugentamos nosso medo através do recurso da ritualística, aplicamos esse fingimento (inconsciente) na nossa arte de curar. Quando falamos de episiotomia, e da complexa ritualística hospitalar, é impossível não entender esses eventos como algo que faça parte de uma grande engrenagem, que visa a perpetuar um sistema de crenças e impedir que outras formas de compreensão sejam estimuladas. Como visto acima, episiotomias, enemas, afastamento da família, roupas de CO, etc. são procedimentos que visam a nos trazer a ilusória sensação de controle sobre os fenômenos da natureza, e a ritualística aplicada tem a intenção de colocar em posição de destaque os profissionais que detêm o poder da técnica e da informação. Essas condutas automáticas e irrefletidas ilusoriamente parecem modificar o rumo caótico (porque fora do nosso controle) do nascimento. Mesmo que as pesquisas demonstrem que não existe ligação alguma entre episiotomia e melhora das condições fetais e/ou maternas, a prática médica contemporânea a perpetua de forma ritual, mística, repetitiva e padronizada, e com conteúdo simbólico subjacente. Nada poderia se encaixar melhor no conceito de rito.
Parece que a evidência científica, por si só, não produz quase nenhuma modificação importante no nosso comportamento clínico. Esse foi o ponto de partida para a minha inquietude em relação à mitologia e à ritualística em obstetrícia. Percebi claramente que existem fatores muito mais poderosos para o controle dos procedimentos médicos do que aquilo que a racionalidade científica nos pode trazer. O ritual é um sistema pré-racional, portanto ligado ao desejo, e por essa razão é tão poderoso e pleno de vigor, mesmo em uma civilização pretensamente “racional”. Por outro lado, é fundamental que tenhamos em mente que os rituais não são escolhidos aleatoriamente. Sua criação pressupõe a valorização e a perpetuação de valores profundos e ancestrais na nossa cultura.
O médico mantém e reproduz um sistema de valores que o sustenta como figura preponderante na sociedade e que cultiva os valores básicos de uma cultura tecnocrática, mitológica, consumista, patriarcal e individualista. Médicos também são guardiões de um sistema de crenças que sustenta o mundo em que vivemos. A ritualística envolvida no parto serve aos interesses profundos dos profissionais da medicina, porque cria a ideia de uma necessidade que só pode ser sanada por quem detém um específico saber. Assim empoderados, os médicos tentam de todas as formas manter uma situação em que se estabeleça a indissolubilidade entre o parto e essa tecnologia, por eles dominada. Agem inconscientemente assim, assegurando sua posição e importância social enquanto mantêm o sistema que os sustenta. O parto, que deveria ser um processo de profundo empoderamento feminino, acaba se tornando, na maioria das vezes, em um processo de fortalecimento dos médicos, das instituições e dos valores tradicionais, mantendo a mulher e o feminino em uma posição inferior e subalterna.
A mulher, relegada a uma posição de passividade e alienação, acaba sofrendo mais tarde, muitas vezes de forma obscura e inconsciente, o resultado dessas interferências, através de múltiplas formas: depressões pós-parto, morbidade aumentada pelas ritualísticas excessivas (doenças, mortes, limitações), mágoas difusas, dificuldades na sexualidade, etc. Além disso, enquanto entendermos o controle da tecnologia como o zênite do proceder médico, estaremos hipervalorizando no profissional detentor desse poder/saber apenas uma qualidade específica, colocando em um patamar secundário aquilo que é a alma do ofício médico, qual seja, o contato e o vínculo com os pacientes. Insistentemente, escutamos o atabaque da mídia insuflando em todos nós, habitantes da Matrix, a importância do uso de tecnologia aplicada à saúde. As notícias seguem sempre um mesmo roteiro previsível, em que as “novas tecnologias” no combate aos males são sempre as grandes heroínas, mesmo que o impacto dessas descobertas no grande cenário da saúde mundial seja normalmente pífio. Assim, ocorreu com a monitorização eletrônica fetal, as ultrassonografias e mesmo a própria internação hospitalar, que nunca comprovou ser superior ao parto domiciliar para as pacientes de baixo risco. Apesar de todas as confirmações científicas dessas realidades, o uso sem limite da tecnologia continua associado à questão da segurança.
“Segurança é a máscara que encobre uma verdade que subjaz: a questão do poder”, já nos alertava Robbie Davis-Floyd. Enquanto não aplicarmos nosso criticismo mais intenso para modificar a forma como enxergamos o nascimento, vamos continuar a observar o parto de uma criança como algo “feito” pelas instituições e corporações, e em seu próprio benefício, em vez de vermos o nascimento humano na graça e magnitude que ele contém. Continuaremos acreditando que a tecnologia desmedida pode propiciar segurança, quando ocorre exatamente o contrário. Hoje em dia, não existe muita dúvida a respeito da necessidade de cuidados com o nascimento, e poucos se aventuram a defender a completa desassistência ao parto. Entretanto, a tecnologia aplicada ao parto apresenta resultados positivos até determinado ponto; a partir daí, o acréscimo de tecnologia faz apenas crescerem estratosfericamente os custos e aumentar a morbi-mortalidade materna e neonatal, segundo inúmeros estudos, incluindo aí o da Dra Daphne Rattner. Isso acontece tipicamente com os Estados Unidos, que aplicam esse modelo tecnocrático à saúde como nenhum outro país e amargam péssimos resultados de saúde perinatal.
Em uma visão pessimista, misturando George Orwell com Jean Baudrillard, em um futuro possível as mulheres já não parirão seus filhos: eles serão produzidos nas chocadeiras imensas da Matrix. Lá se configurará o apogeu das tecnologias de separação, cortando definitivamente a ligação visceral de mães e filhos, já apregoada por alguns arautos dos novos tempos. Será a “Quarta Ordem do Simulacro” de Baudrillard, em que a simulação se torna absolutamente despregada da realidade, não guardando com ela nenhuma relação residual. A pergunta que não queria calar em minhas angustiantes divagações — como Neo, magnetizado pela palavra “Matrix” na tela do seu computador — era: por que é preciso “consertar” mulheres que estão tendo seus filhos? Seriam estes procedimentos ritualísticos, realizados pelos médicos nos centros obstétricos, uma espécie de batismo, atitudes carregadas de simbolismo que visam a conformar os indivíduos a uma determinada função social? Serei eu um “tecnobispo” a batizar todas as mulheres para adentrarem o mundo da maternidade?”
Depois de algum tempo praticando a obstetrícia, compreendi que jamais realizara qualquer dos inúmeros procedimentos ritualísticos hospitalares também chamados de “rotinas”, por serem comprovadamente necessários, ou porque acreditava nos seus benefícios. Jamais havia embasado essas condutas em evidências claras de sua adequação. Agia tal qual um autômato, governado externamente por um sistema invisível, e por isso mesmo muito maior e poderoso. Esse comportamento estereotipado e previsível não era sequer culpa do meu pobre professor de obstetrícia. Ele também estava adormecido, aquecido e nutrido pelo sangue que vinha do coração da Matrix, e só repetira para mim o que lhe fora ensinado. Estava à mercê do sistema, e seus músculos estavam atrofiados demais para que pudesse se movimentar. Eu agia daquela forma, afastando, invadindo, cortando, costurando e separando, porque assim a Matrix me dizia para agir; era levado a acreditar que as mulheres jamais poderiam parir (ou adentrar a maturidade social) sem que um homem (ou alguém representando o patriarcado) a autorizasse, através das “marcas” no corpo e na alma, estabelecendo um triste paralelo com o simbolismo da clitoridectomia, em outra cultura igualmente patriarcal e violenta.
Em Matrix, o filme, estamos todos representados em muitos dos personagens, basta decidir em que parte do filme. Podemos ser o alienado, que nada desconfia das forças poderosas que nos fazem acreditar na tecnologia como uma deusa totipotencial, que “enfim vai nos redimir” da nossa impureza e imperfeição. Podemos ser como as pessoas que vão para o trabalho e sentem que existe alguma coisa estranha no ar, mas não sabem o quê, porque não pararam para pensar suficientemente no fato de existirem hospitais com 80% de cesarianas ou que os 5% mais ricos da população do país detêm 50% da sua riqueza. Podemos ser também como o Neo “pobre-coitado”, que vomita, chora, sofre ao ver como o mundo (interno e externo) não é exatamente como pensava ou fantasiava. Somos muito mais imperfeitos e incompletos do que nossa infinita condescendência nos permite enxergar.
Por outro lado, podemos ser o Neo que percebeu que esse mundo feio é o único de verdade que temos, e que é na realidade dolorosa — e só ali — que as modificações podem se processar. Esse Neo que enfrenta os inimigos — internos e externos — e que percebeu que a luta contra a opressão e a injustiça é o único destino daqueles que tiveram a oportunidade de enxergar mais além. Mais cedo ou mais tarde, a vida dentro da Matrix se torna insuportável, pois é da natureza humana o destino de expandir-se. Liberdade é a nossa meta última. Um mundo em que prevaleça a dignidade, o respeito, a cidadania e em que as mulheres sejam vistas com igualdade, principalmente no momento mágico e sublime de terem seus filhos é nosso objetivo maior, e para isso qualquer sofrimento vale a pena.
Até mesmo a injustiça.